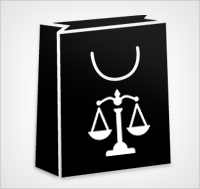Liberdade ou censura? Soberania digital de quem? O anúncio da Meta e as muitas perguntas sem resposta
27 de janeiro de 2025, 6h03
“… tudo que é bom, ruim e desagradável está à vista. Mas isso é liberdade de expressão…”
As plataformas da Meta foram projetadas para serem espaços onde as pessoas podem se expressar livremente. Isso pode ser uma bagunça. Em plataformas onde bilhões de pessoas têm voz, tudo que é bom, ruim e desagradável está à vista. Mas isso é liberdade de expressão – foi assim que começou a publicação do Newsroom da Meta que trouxe a notícia do controverso anúncio de Mark Zuckerberg neste último dia 8 de janeiro.
O CEO da Meta, companhia responsável pelo Instagram e Facebook, divulgou em vídeo um projeto de “restauração global da liberdade de expressão”, que se dará em aliança com o governo e empresas norte-americanas. A iniciativa tem como foco principal a reformulação e a simplificação das políticas de moderação de conteúdo – à semelhança da rede vizinha de Musk – e as primeiras mudanças estão programadas para serem implementadas inicialmente nos Estados Unidos.
O falso trade-off entre censura e segurança
A motivação central para as mudanças seriam as sérias e complexas questões relacionadas à publicação de conteúdos ilegítimos, abusivos ou ilícitos, bem como aos sistemas usados para detectá-los. Nesse processo – argumenta-se – muitas pessoas que não violam os termos de uso ou as políticas de convivência das plataformas acabam sendo silenciadas de forma acidental. Para ele, isso resulta em “muitos erros e muita censura”, mesmo com a existência de mecanismos idôneos para contestação e verificação dos fatos, como o Oversight Board e os fact checkers.
Não é de hoje que o debate em torno da moderação de conteúdos em plataformas digitais é enquadrado como um dilema entre segurança e liberdade de expressão ou, mais especificamente, entre a necessidade de proteger usuários de conteúdos altamente prejudiciais – especialmente para os mais vulneráveis – e o risco de promover uma censura digital ou Ministério da Verdade. Essa concepção, polarizadora e simplista que é, acoberta as muitas nuances do problema, ignorando que é possível – e necessário – equilibrar essas duas dimensões sem sacrificar uma ou outra.
Uma concepção complementar e não-excludente
Tradicionalmente, observa-se um aparente contraponto entre a segurança nas redes, garantida pela moderação de conteúdos, e a liberdade de expressão, especialmente na sua ampla concepção norte-americana. Essa visão, contudo, difere significativamente do modelo constitucional brasileiro, que adota a ideia de irradiação dos direitos fundamentais nas relações privadas, sejam elas horizontais ou diagonais, incorporando uma abordagem mais equilibrada e contextualizada para harmonizar esses valores – ambos tão caros e necessários para a vida em qualquer sociedade democrática e para o desenvolvimento de modelos de negócio.
Soberania digital e a interpretação do Direito por agentes privados transnacionais
Soberania, tradicionalmente, é um conceito relacionado ao Estado e às respectivas capacidades de governar um povo em um dado território, incluindo-se a criação e a interpretação do Direito, bem como sua aplicação, especialmente com o exercício da jurisdição pelos legitimados nos limites estabelecidos. Daí que, neste tema, uma das concepções de soberania – agora digital – se refere, de um lado, à regulação das tecnologias (independente do modelo regulatório adotado) e, de outro, à interpretação do direito existente e o acomodamento das novas situações advindas das relações online nos preceitos jurídicos pensados para o mundo offline.

Com o surgimento de poderosas empresas tecnológicas transnacionais, que atuam como intermediárias indispensáveis para o acesso e a participação no ambiente digital – fornecendo o que é essencial para a presença digital de Estados, cidadãos e empresas –, essas corporações passaram a exercer, de forma cada vez mais evidente, o papel de intérpretes e até mesmo criadoras do Direito (o código é a lei, não é?), o que foi permitido pelo direito privado através dos termos e condições de uso unilateralmente elaborados e automatizadamente executados. A percepção pública do que é liberdade, expressão e censura (que varia entre jurisdições) está, pois, sendo configurada globalmente por esses agentes com o apoio do governo norte-americano, sem nenhuma força legitimadora e de forma pouco democrática.
Não tão livre desenvolvimento da personalidade e facilitação da exclusão e da violência
Mas soberania digital também se refere ao autogoverno de grupos e indivíduos e ao direito/poder que eles (assim como todos, pelo menos em teoria) têm de ter a sua identidade e sua personalidade respeitadas, possibilitando o seu livre desenvolvimento. E isso foi impactado diretamente pela “simplificação” das políticas de moderação da Meta que, entre outras coisas, passa a permitir “alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas em gênero ou orientação sexual, dado o discurso político e religioso sobre transgenerismo e homossexualidade”, abrindo espaço para “linguagem insultuosa no contexto de discussão de tópicos políticos ou religiosos, como ao discutir direitos transgêneros, imigração ou homossexualidade”.
Outro ponto de destaque foi que a nova versão da política – por ora em vigor somente nos Estados Unidos – retirou algumas restrições referentes a termos como autoadmissão de intolerância com base em características protegidas (discriminações ilícitas), incluindo as de caráter homofóbico, islamofóbico e racista. Claro, em nome da liberdade de expressão – em detrimento da (já parca) proteção de grupos vulneráveis online e do próprio livre desenvolvimento da personalidade.
Isso pode ter como resultado a discriminação, a exclusão e o aumento da violência (tanto online quanto offline) para grupos historicamente marginalizados ou tidos como menos merecedores por algum motivo, como os doentes, as pessoas com deficiência, LGBTQIA+, negros, indígenas e assim por diante. De um lado, um silenciamento involuntário por esse contexto e, de outro, um silenciamento voluntário por medo de represálias se esses impactos forem negligenciados e – o pior – impulsionados para um público cada vez maior por algumas centenas de milhares de dólares.
Aliança com governo norte-americano e o mito da neutralidade das redes escancarado
Outra questão relevante a ser destacada é o ponto de inflexão cultural que se refletiu na última campanha eleitoral nos EUA, que significa, na avaliação de Mark, que a sociedade novamente prioriza a liberdade de expressão e quer, sim, ter acesso a informações de cunho político por meio de redes sociais. E isso gerará maiores recomendações de conteúdos com esse tom aos usuários – e possivelmente maior receitas à Meta pela monetização do impulsionamento.
A relação entre plataformas digitais, governos e sociedade é – já se sabe – complexa, especialmente no que diz respeito ao papel das redes sociais em campanhas eleitorais, na disseminação de conteúdo político e nos diversos processos democráticos que encontram espaço de organização e execução, no mais das vezes, pelas redes. Com esse novo anúncio – que não é um mero dizer, é uma declaração – expuseram-se ainda mais as tensões entre liberdade de expressão (e outros direitos fundamentais), regulação de plataformas digitais e a suposta neutralidade das redes.
A neutralidade das redes, em realidade, nunca existiu. A partir do momento em que há mais de um conteúdo a ser mostrado aos internautas, deve haver um critério de exibição. Com esse critério, escolhido pela empresa organizadora da aplicação de internet, deixa a plataforma de ser neutra e passa a privilegiar determinado parâmetro. Isso é agravado, inclusive, quando esses atores são formadores de opiniões públicas e esses critérios e parâmetros passam também a ser monetizados, impulsionados e gerenciados conforme os interesses – bem econômicos – dessas mesmas plataformas (e de quem as paga), independentemente da prejudicialidade do conteúdo e das mensagens disseminadas, sem nem mesmo mencionar os impactos polarizantes daí advindos.
Substituição de fact checkers por notas da comunidade
Retornando às eleições de 2016, Mark Zuckerberg destacou como a mídia passou a apontar consistentemente que as redes sociais poderiam representar uma ameaça à democracia. Em resposta a essas críticas, suas empresas implementaram parcerias com verificadores de fatos (fact checkers) para combater a desinformação e fortalecer a confiança social. Esse programa de verificação tem mais de 200 parceiros em 115 países, tendo sido a Meta um dos maiores financiadores de checagem independente de fatos nas redes.
No entanto, segundo a avaliação de Zuckerberg, esses verificadores – mesmo que sem poderes para derrubar posts – começaram a demonstrar vieses políticos, o que acabou distorcendo a intenção original e, paradoxalmente, enfraqueceu a confiança da sociedade nas plataformas digitais e nas instituições. Essas são as razoes pelas quais esse sistema de checagem, por parte da Meta, vai ser encerrado e será substituído por notas da comunidade, semelhante ao que acontece no X, falecido Twitter.
No ex-passarinho azul, o programa funcionava a partir da inscrição do usuário, o qual poderia acrescer notas em publicações para fornecer contexto ou corrigir informações eventualmente falsas ou enganosas. Após, outros colaboradores avaliariam a nota e, caso um número suficiente de participantes chegasse a um consenso razoável, ela se tornaria pública e apareceria junto à publicação original. A ideia está centrada na noção de moderação comunitária, sem a ingerência da própria plataforma, a menos que haja violação dos termos de uso e congêneres.
Problemas da moderação comunitária e a desinformação
Notas da comunidade funcionam em assuntos em que há determinado nível de consenso entre os usuários. Apesar de se chegar a consenso atualmente parecer ser tão difícil dada a intolerância nas redes, outros problemas também despontam nesses sistemas de avaliação de conteúdos.
Há, por exemplo, a falta de expertise em determinados assuntos, o que pode levar a contribuições de baixa qualidade e à incapacidade técnica para avaliar corretamente conteúdos mais sensíveis. Além disso, existe o risco de polarização ideológica, cultural ou política, que pode resultar na aprovação de notas que favorecem determinados grupos ou narrativas. Outro problema relevante é a cooptação do sistema, em que grupos organizados podem se mobilizar para influenciar as decisões, aprovando ou rejeitando conteúdos com base em interesses próprios, e não nos da comunidade como um todo.
Como consequência desses fatores, há também o risco de perpetuação da desinformação, quando as notas apresentam contextos limitados ou utilizam fontes pouco confiáveis, falhando em corrigir informações enganosas. Esse problema é agravado pela possível hiperconfiança nas notas, que podem ser vistas como fontes primárias de informação por usuários, sem questionamentos adicionais ou verificação por outras fontes – especialmente preocupante, considerando que uma parcela significativa da população hoje se informa exclusivamente por meio de redes sociais ou aplicativos como WhatsApp, onde a circulação de informações pode ocorrer sem filtros adequados ou validação crítica.
Novos poderes, nova regulação?
Historicamente, quando o poder é exercido de (certo) modo desmedido ou sem justificação, formas de contenção são desenvolvidas. O próprio Direito pode ser assim concebido: para os monarcas, a garantia de liberdades individuais e a supremacia das leis; para o Estado, os direitos fundamentais e a supremacia da constituição. E para as plataformas? Regulação de plataformas digitais, como as redes sociais, é um tema bastante espinhoso que comporta posicionamentos bastante diferentes e até mesmo divergentes: desregulação, autorregulação, autorregulação regulada e heterorregulação são algumas das propostas de análise jurídica do fenômeno.
Mas é importante que se frise que esses agentes não operam em um vácuo: os mandamentos do ordenamento jurídico de qualquer território em que operam continuam válidas e em vigor. Equivale a dizer que muitos dos preceitos que já temos estabelecidos são plenamente aplicáveis: apesar de não focar exatamente em plataformas, o direito do consumidor, a proteção de dados pessoais, propriedade intelectual, direito civil e do trabalho etc. permanecem cogentes e de observância obrigatória. Não que, pela especificidade do meio digital, das atividades exercidas por essas plataformas e dos seus impactos coletivos e individuais, não será necessária nova norma a respeito – não se trata disso, senão da aplicação do que já se tem, no que e como couber.
Direitos fundamentais e humanos como parâmetros e limites das atividades econômicas
Daí igualmente destacarmos o papel fundamental da Constituição Federal e dos respectivos direitos fundamentais como guia, mandamento e base civilizatória. No seu viés objetivo, eles estabelecem parâmetros estruturantes para a organização da sociedade e do Estado, orientando a formulação de políticas públicas e decisões dos Poderes, garantindo que os princípios de dignidade humana, liberdade e igualdade sejam promovidos e protegidos. Essa é a concepção dos direitos fundamentais como limites à atuação do Estado – ou seja, ao poder do Estado.
Atualmente, com os poderes das plataformas, há a valorização progressiva de uma concepção que no Brasil é (não sem contradições e intensos debates, relativamente) aceita e aplicada pelos tribunais: a aplicação horizontal dos direitos fundamentais (entre privados simétricos/paritários) e diagonal (entre privados assimétricos/não paritários). É que dos direitos fundamentais nascem não só parâmetros para o Estado, mas uma espécie de acordo implícito para toda a sociedade que coloca, ou pretende colocar, a pessoa humana não no centro do ordenamento como valor mais elementar, mas de toda a vida em sociedade – aqui entrando, por lógica, a iniciativa privada.
No âmbito digital, com a atuação dessas aplicações de internet, garantias constitucionais como o devido processo (informacional), contraditório e ampla defesa tornam-se chaves-mestras para lançar luz ao exercício opaco de poder de sistemas informáticos e digitais, como demonstrado no julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre decisões automatizadas e descredenciamento unilateral de usuários de plataformas digitais (REsp 1.952.565/DF, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).
Como se percebe, retomam-se os direitos fundamentais, pelo viés objetivo, o qual transcende a dimensão individual dos direitos fundamentais, como valores estruturais da ordem jurídica que conformam as atividades econômicas também, inclusive aquelas cujo teor econômico advêm de novas estruturas sociais, como as digitais. Devem, pois, servir como balizas para guiar a atuação de instituições públicas e privadas e promover um equilíbrio entre interesses coletivos e individuais, sociais e econômicos, da comunidade e das empresas.
Nesse sentido, os direitos fundamentais tornam-se não apenas garantias individuais, mas também princípios norteadores do desenvolvimento de uma sociedade justa e democrática. Igualmente, serão limitadores do poderio tecnológico que representa formas de governança privada não legitimizada democraticamente, apenas economicamente e por quem lhe retira proveito, inclusive com impulsionamento de conteúdos que ferem outros direitos humanos e fundamentais.
Os caminhos da cooperação global, regionalidades e o novo imperialismo digital
Dada a transnacionalidade das principais plataformas digitais, que concentram a maior parte dos usuários — sejam consumidores ou profissionais —, torna-se imprescindível adotar uma abordagem internacional convergente e abrangente para enfrentar os desafios regulatórios.
No entanto, esse cenário parece cada vez mais distante de se concretizar, especialmente considerando as profundas divergências entre os sistemas jurídicos, interesses econômicos e prioridades políticas das diversas nações envolvidas. Um exemplo claro disso é a revogação da Executive Order de Biden sobre inteligência artificial com o novo mandato de Trump, que sinaliza uma mudança de postura em direção a um novo imperialismo digital, centrado em interesses nacionais e corporativos dos Estados Unidos, frequentemente em detrimento de uma governança digital global e inclusiva.
Para além da regulação local, uma cooperação global eficaz deve criar mecanismos que alinhem as práticas empresariais aos direitos humanos, assegurando que valores universais, intrínsecos à dignidade humana, sejam respeitados e promovidos. Contudo, a tendência atual de políticas corporativas e governamentais prioriza interesses econômicos imediatistas, promovendo um modelo de governança digital que reforça a assimetria de poder entre nações e marginaliza os mais vulneráveis.
Um possível caminho eficiente incluiria a harmonização de normas internacionais, a implementação de sistemas legítimos e ágeis de resolução de conflitos que considerem a vulnerabilidade digital das pessoas e a valorização das regionalidades, disparidades econômicas e culturais na definição do que é direito e justiça em plataformas digitais, e não o contrário. Entretanto, equilibrar especificidades locais com a eficácia de padrões globais exigiria concessões significativas por parte de todos os envolvidos, algo que parece improvável em um cenário de crescente fragmentação política e econômica.
Nesse contexto, fóruns multilaterais como a ONU, blocos regionais e organizações intergovernamentais podem desempenhar um papel extremamente importante ao criar espaços para negociações e debates que busquem políticas inclusivas, universais e resistentes a imperialismos. A cooperação global também deve incluir as empresas de tecnologia como atores centrais, reconhecendo que, apesar de não serem Estados, elas exercem um poder equivalente ou superior em muitas dimensões digitais, moldando normas e influenciando decisões políticas, coletivas e até mesmo individuais.
Para garantir uma governança digital sustentável, seria essencial a criação de normas vinculantes e mecanismos de monitoramento internacional que alinhem interesses públicos e privados. Essa abordagem não apenas conteria os excessos do novo imperialismo digital, mas também garantiria que a evolução tecnológica beneficie a sociedade global de forma equitativa e responsável, em vez de perpetuar desigualdades e ampliar os abismos digitais (mas muito reais).
O que esperar da responsabilidade das plataformas digitais no Brasil?
A resposta da Meta em português à AGU foi lida como uma tomada de posição supostamente mais amena que o vídeo de seu CEO. Entretanto, seus termos parecem mais lacônicos do que contundentes no que concerne a uma postura da empresa que se pretenda ser efetivamente proativa e condizente com à legítima expectativa dos consumidores e instituições brasileiras.
Desta forma, se já perante o atual estado de coisas quanto à responsabilidade dos provedores haja sérias dúvidas sobre o real comprometimento do fornecedor com uma “Due diligence” capaz de cumprir adequadamente suas próprias cláusulas contratuais em forma de política de conteúdo, imagine frente ao provável standard trazido pelo Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade (ou interpretação conforme a constituição) do artigo 19 do Marco Civil da Internet. A proposta do ministro Toffoli sintetiza uma série de conteúdos potencialmente lesivos que exigirão uma conduta muito mais proativa dos provedores de aplicação (especialmente os de redes sociais) para a moderação de conteúdo.
Caso queira se impor a linha de conduta assustadoramente exposta pelo CEO, de que “liberdade de expressão” parece se confundir com um mundo sem regras, não surpreenderá se cedo ou tarde as redes sociais da Meta tenham o mesmo destino (ainda que breve) do X e Telegram.
Concluindo…
Para concluir esta provocação, ainda que conscientes de que o tema está longe de ser esgotado, é pertinente deixar em aberto algumas das muitas questões que continuam a exigir reflexão e debate aprofundado:
O que é liberdade no contexto digital?
O que significa expressão em um mundo mediado por plataformas?
Quem define esses termos em âmbuto global e os impõe local?
Onde termina a liberdade de expressão e começa a censura?
Quem detém a soberania na dimensão digital?
Como incorporar direitos humanos e fundamentais em contratos privados?
É possível alcançar neutralidade em redes sociais e plataformas digitais?
Qual é, afinal, a melhor forma de regulação?
…?
Sem respostas, cabe frisarmos: a Meta e outras gigantes tecnológicas enfrentam uma encruzilhada histórica; se persistirem em um modelo que prioriza interesses econômicos de curto prazo, podem levar à erosão sua relevância e legitimidade; se, por outro lado, assumirem um papel ativo na promoção de direitos fundamentais/humanos e na construção de um ambiente digital responsável, podem não apenas garantir sua sobrevivência no mercado, mas também consolidarem sua posição como líderes globais em inovação ética.
O futuro das plataformas digitais será definido pelas escolhas feitas hoje, e cabe a nós, também, pressionar por um caminho mais justo e equilibrado.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!