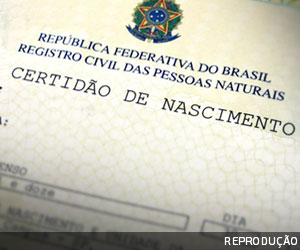União estável: presunção de esforço comum na aquisição de patrimônio no período de 1988 e 1996
4 de fevereiro de 2025, 6h33
A Constituição da República de 1988, ao reconhecer a família como base da sociedade outorgando-lhe a especial proteção do Estado, trouxe o conceito de entidade familiar, albergando assim outras estruturas de convívio para além do casamento.
As uniões extramatrimoniais — até então nominadas pejorativamente de concubinato, alijadas pela sociedade e punidas pela lei — receberam o nome de união estável (CR, artigo 226, § 3º). Limitava-se a jurisprudência a reconhecê-las como meras sociedades de fato, fora do âmbito de proteção do Direito das Famílias. Tanto que as demandas tramitavam nos juízes cíveis. Como sociedades irregulares, no máximo era admitida a divisão dos bens amealhados durante sua vigência.
O alargamento do conceito de família dispensa qualquer regulamentação para produzir efeitos. Assegurou um direito fundamental a ditas estruturas de convívios via dispositivo autoaplicável. Explícito o comando constitucional (CR, artigo 5º, § 1º): as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Diante do novo arcabouço jurídico, a ausência de uma legislação infraconstitucional regulamentando a união estável, não impediu — e nem poderia — seu imediato reconhecimento. A jurisprudência, por analogia, passou a aplicar as regras do casamento. As ações migraram do juízo cível para as Varas de Famílias e aos companheiros foram concedidos os mesmos direitos. Tanto que, já no ano de 1990, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, decisão da qual fui relatora, deferiu alimentos à companheira [1].
As normas regulamentadoras da união estável, foram editadas somente nos anos de 1994 e 1996, e nada mais fizeram do que ratificar o comando constitucional. Em um primeiro momento foi assegurado direito a alimentos, usufruto e direito sucessório, bem como o direito à meação dos bens da herança adquiridos com a colaboração do companheiro (Lei 8.971/1994).
Tratamento diferenciado e inconstitucionalidade do artigo 1.790 do CC
Depois, foram introduzidos os elementos identificadores da união estável: publicidade, continuidade, notoriedade com a intenção de constituição de uma família. Definida a competência da Vara de Família, foram assegurados direitos e deveres recíprocos. Em caso de falecimento, além do direito real de habitação foi garantido direito à herança. Também acabou consagrada a presunção de cotitularidade igualitária do patrimônio adquirido onerosamente na constância da união, sendo considerados fruto do trabalho e colaboração comum (Lei 9.278/1996).
Posteriormente o Código Civil absorveu os dispositivos das leis especiais no Livro do Direito de Família (artigos 1.723 a 1.727).
A inútil recomendação constitucional de que a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento não estabeleceu qualquer hierarquização entre as duas estruturas familiares, mas induziu o legislador a emprestar-lhes tratamento diferenciado. Equívoco que, em boa hora, foi espancado pelo Supremo Tribunal Federal, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 1.790 do Código Civil, que emprestava menos direitos ao companheiro no âmbito do direito sucessório. O fundamento da decisão foi exatamente o desrespeito ao princípio da igualdade, conforme o voto do ministro Luís Roberto Barroso:
“Se o papel de qualquer entidade familiar constitucionalmente protegida é contribuir para o desenvolvimento da dignidade e da personalidade dos indivíduos, será arbitraria toda diferenciação de regime jurídico que busque inferiorizar um tipo de família em relação a outro, diminuindo o nível de proteção estatal aos indivíduos somente pelo fato de não estarem casados. Desse modo, a diferenciação de regimes entre casamento e união estável somente será legitima quando não promover a hierarquização de uma entidade familiar em relação a outra.” [2].
De qualquer modo, ao menos no que diz com o regime de bens as regras sempre foram iguais. Sem prévia estipulação sobre questões patrimoniais — via pacto antenupcial (CC, artigo 1.640) ou contrato de convivência (CC, artigo 1.725) — o regime é o da comunhão parcial. Presume-se que todos os bens amealhados no período de convivência foram adquiridos por mútua colaboração, sendo considerados frutos do esforço comum.

Maria Berenice Dias, advogada
No casamento, dita comunicabilidade é explícita no Código Civil (artigo 1.658): No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento.
Na união estável, a presunção juris et de jure de que os bens adquiridos a título oneroso na constância da convivência são fruto do esforço comum, foi instituída pelo artigo 5º da Lei 9.278/1996: Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.
Até maio de 1996
No entanto, com relação às uniões que se constituíram antes da entrada em vigor deste dispositivo legal, especificamente, antes de 10 de maio de 1996, surgiram questionamentos sobre a necessidade ou não de ser comprovada a efetiva participação de cada parceiro para a partilha igualitária dos bens.
A controvérsia deve ser equacionada de maneira a melhor atender ao propósito da Constituição, de modo a assegurar sua máxima efetividade e plena eficácia. Assim, a partir de outubro de 1988, com o esgarçamento do conceito de família, não é possível subtrair efeitos patrimoniais da união estável. A omissão do legislador infraconstitucional de regulamentá-la, não pode levar a justiça a exigir prova da efetiva contribuição de cada um na aquisição do patrimônio amealhado durante o período de convivência, sob pena de se negar eficácia ao comando constitucional.
Nada justifica pretender que, a partir da constitucionalização da união estável, se possa exigir prova da efetiva contribuição de cada um na aquisição do patrimônio amealhado durante o período de convivência.
Economia do cuidado
Primeiro. Súmula do Supremo Tribunal Federal [3], editada no ano de 1964, quando somente era reconhecida a existência de uma sociedade de fato, já determinava a partilha igualitária dos bens, sem a exigência da prova do esforço comum. Ao depois, a legislação que veio regular a união estável, nada mais fez do replicar o regime patrimonial que já era reconhecido mesmo quando tais vínculos eram chamados de sociedade de fato.
Finalmente. Merece o tema uma abordagem atentando à realidade histórica, que diz com a desequiparação dos papéis de gênero, que a sociedade impôs a homens e mulheres, A naturalização de atribuir a titularidade do patrimônio ao marido ou companheiro, decorria do fato de não se reconhecer relevância econômica ao trabalho desempenhado pela mulher com os filhos e a casa.
Só recentemente a chamada “economia do cuidado” passou a merecer a devida atenção, com o reconhecimento de que a participação da mulher no contexto das atividades domésticas dispõe de valor econômico e precisa ser mensurado [4].
A consciência desta realidade inspirou a correta interpretação frente a lacuna legal. Data do ano de 2013 a decisão da ministra Nancy Andrighi que reconheceu a desnecessidade da prova do esforço comum, mesmo antes da edição da Lei 9.278/1996:
“(…) Conquanto o art. 5º da Lei 9.278/96 incida do momento de sua vigência em diante, não se pode negar que o seu espírito nasceu impregnado do senso de justiça e solidariedade que impõe, na interpretação do § 3º do art. 226 da CF, mesmo antes da correspondente regulamentação, o reconhecimento de que, como entidade familiar que é, a união estável pressupõe a intenção dos seus membros de comungar esforços para o alcance de objetivos que lhes são comuns, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais. 5. Essa comunhão de esforços não se restringe à mera contribuição financeira, porque, na divisão de tarefas do cotidiano familiar, outras atividades existem, de igual importância e necessidade para a harmonia do convívio de todos os integrantes e a construção do almejado patrimônio. 6. A tese de que até o advento da Lei 9.278/96 se exige a comprovação do esforço comum, para que tenha o companheiro direito à metade dos bens onerosamente adquiridos na constância da união estável, é construção jurisprudencial que não se coaduna com a natureza própria de entidade familiar, conferida, muito antes, pela Constituição Federal, sob cujos influxos axiológicos deve ser interpretado todo o Direito infraconstitucional. 7. Assim, o preenchimento do vácuo legislativo decorrente da ausência de regulamentação legal do § 3º do art. 226 da Constituição Federal impõe ao Juiz o dever de decidir no sentido que confira máxima efetividade ao dispositivo constitucional que reconhece a união estável como entidade familiar. Para tanto, observando aquilo que ordinariamente acontece – que a formação da família pressupõe o empenho mútuo, no plano material e/ou imaterial, necessário à realização plena de seus integrantes -, a solução da controvérsia outra não deve ser senão a de reconhecer, salvo as exceções legais ou se pactuado diversamente pelos companheiros, o emprego do esforço comum para a aquisição onerosa de bens no curso da vida a dois.8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” [5]
Quando a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça acabou firmando entendimento acerca do tema em sentido contrário, o voto vencido o ministro Luis Felipe Salomão relembra os fundamentos levantados pela colega Nancy Andrighi:
“Dessarte, embora seja certo que, anteriormente às Leis n. 8.971/1994 e 9.278/1996, não havia legislação dispondo a respeito dos bens adquiridos durante o concubinato (união estável), existia, inequivocamente, o reconhecimento de que desta relação exsurgia direitos de natureza patrimonial e que estes deveriam ser reconhecidos. […] mesmo antes da correspondente regulamentação, o reconhecimento de que, como entidade familiar que é, a união estável pressupõe a intenção dos seus membros de comungar esforços para o alcance de objetivos que lhes são comuns, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais. 5. Essa comunhão de esforços não se restringe à mera contribuição financeira, porque, na divisão de tarefas do cotidiano familiar, outras atividades existem, de igual importância e necessidade para a harmonia do convívio de todos os integrantes e a construção do almejado patrimônio. 6. A tese de que até o advento da Lei 9.278/96 se exige a comprovação do esforço comum, para que tenha o companheiro direito à metade dos bens onerosamente adquiridos na constância da união estável, é construção jurisprudencial que não se coaduna com a natureza própria de entidade familiar, conferida, muito antes, pela Constituição Federal, sob cujos influxos axiológicos deve ser interpretado todo o Direito infraconstitucional. […] a formação da família pressupõe o empenho mútuo, no plano material e/ou imaterial, necessário à realização plena de seus integrantes -, a solução da controvérsia outra não deve ser senão a de reconhecer, salvo as exceções legais ou se pactuado diversamente pelos companheiros, o emprego do esforço comum para a aquisição onerosa de bens no curso da vida a dois” [6].
A necessidade de se atentar a esta realidade, inclusiva, é imposta pelo Conselho Nacional de Justiça ao tornar obrigatória a aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero [7].
Ou seja, não há como se falar em ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito para impedir a partição do patrimônio a partir da vigência da regra constitucional e antes da regulamentação da união estável levada a efeito seis anos depois. Afinal, os bens foram amealhados por ambos.
Absolutamente desarrazoado insistir na subtração de efeitos patrimoniais à união estável, mantendo ao desabrigo jurídico uma entidade familiar consagrada constitucionalmente. É, nada menos, do que condenar à invisibilidade quem sempre foi alvo da rejeição social. É chancelar verdadeiro retrocesso.
Assim, independentemente da data de início da união estável, é indispensável reconhecer que vigora entre os companheiros o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se o esforço comum para a divisão igualitária do patrimônio.
__________________________
[1] TJ-RS – AC 590069308, 8ª C. Cív., rel. Maria Berenice Dias, j. 20/12/1990.
[2] STF – RE 878694, rel. min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10-05-2017.
[3] STF – Súmula 380: Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.
[4] (…) O esforço comum não se limita a contribuição material, abrangendo também o apoio moral em todo o relacionamento, diante da solidariedade que sempre deve nortear a relação. (…) (TJ-PR – AC 6332185 PR 0633218-5, 11ª T., rel. Vilma Régia Ramos de Rezende, j. 14/07/2010).
[5] STJ – REsp 1.337.821/MG,3ª T., rel. min. Nancy Andrighi, j. 21/11/2013.
[6] STJ – REsp 1.124.859/MG, 2ª Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Ac. min. Isabel Gallotti, j. 21/11/2013.
[7] CNJ – Recomendação 128/2022 e Resolução 492/2023.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!