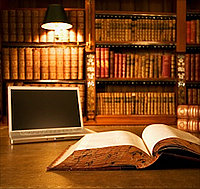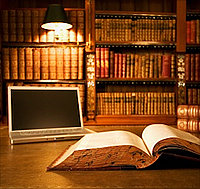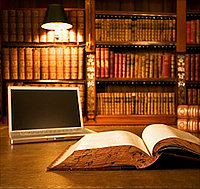A Décima Noite: um dos muitos romances do Código Civil
3 de fevereiro de 2025, 12h16
Quem se der ao trabalho de ler o belíssimo livro A Décima Noite, de Josué Montello, encontrará, desde as primeiras páginas, o confessado fundamento da relevância literária do Direito Civil e do Código Civil, começando pela maneira erudita e elegante com que o autor passeia pelas explicações históricas sobre a construção do livro, num capítulo chamado “História desde Romance”, que começou a ser escrito em 1957 e foi publicado no ano seguinte. Nas páginas iniciais, o autor descreve as reminiscências desde seu local de trabalho, em Lisboa, traçando paralelos entre a arquitetura lisboeta e sua amada São Luís, até chegar na influência das releituras que então realizava, em especial Os Maias, de Eça de Queirós, mas sem esquecer o impacto de sua mudança para Madri.
Recordemos, aliás, suas palavras joviais sobre a influência civilística: “caíra-me as mãos, não sei bem por que motivo, ainda em Lisboa, um exemplar de nosso Código Civil. Andei a repassar-lhe o texto salteadamente, e logo me pareceu que, em qualquer um de seus artigos, se escondia um romance, ou muitos romances, assim como há um conto esquecido em cada provérbio da sabedoria popular” [1].
De fato, é verdadeiro motivo de júbilo o reconhecimento da importância do Direito Civil e sua influência sobre a literatura de primeira linha pelo falecido escritor ludovicense, o quarto ocupante da Cadeira nº 29 da Academia Brasileira de Letras, eleito em 4 de novembro de 1954, na sucessão de Cláudio de Sousa e recebido em 4 de junho de 1955 pelo acadêmico Viriato Corrêa, quando pronunciou o discurso de posse intitulado “O encontro da academia”, ele mesmo que posteriormente pronunciaria os fabulosos discursos de recepção aos acadêmicos Cândido Mota Filho (1960), José Sarney (1980), José Guilherme Merquior (1983), Evaristo de Moraes Filho (1984), Evandro Lins e Silva (1998) e Roberto Marinho (1993), tendo sido presidente da Academia Brasileira de Letras entre 1994 e 1995.
Aliás, seu discurso de posse na casa de Machado de Assis inicia com a recordação de famosa anedota jurídico-eclesiástica, retirada de El Conde Lucanor, obra narrativa de Espanha medieval (1330-1335), escrita por Dom João Manuel de Castela, que merece citação breve, mas integral:
“Entre os monges da Catedral e os frades menores de Paris irrompeu, certo dia, uma querela de campanário, porque ambas as ordens igualmente aspiravam à primazia de tocar o sino ao apontar do sol.
Na condição de cabeças da Igreja na cidade, os monges da Catedral sustentavam que lhes competia a glória matinal desse cuidado. Mas os frades menores logo redarguiam que, sendo tradicionalmente madrugadores e expeditos, não atinavam porque teriam de esperar que outra Ordem lhes tangesse as horas no momento do arrebol.
A discussão dos frades, colocada nesses termos irredutíveis, converteu-se facilmente em processo com denúncias, citações, agravos, queixas, embargos e apelações, e arrastou-se pelo tempo adiante, sem que se descobrisse, nas marchas e contramarchas, a solução capaz de harmonizar os querelantes.
No rolar do tempo, a demanda acabou por alcançar em Roma os ouvidos de Sua Santidade, que logo decidiu pôr termo à contenda com a interferência direta de um cardeal.
Homem prático e decidido, o representante do papa chamou a si o processo com todas as suas peças e, sem ao menos deter os olhos na montanha de papel, citou os litigantes para o dia seguinte, a fim de conhecerem da sentença.
E a hora marcada, imutáveis nos seus pontos de vista, lá estavam, diante do emissário de Sua Santidade, os frades menores e os monges da catedral.
O cardeal começou por fazer queimar, à vista dos querelantes atônitos, a papelama do processo.
– Amigos – disse então Sua Eminência –, esta questão tem durado muito. E precisa acabar. Agora mesmo lhe daremos um fim. Ambos quereis tocar a matinas, sem que um se conforme com prioridade do outro. Mas aqui vos dou a sentença, que resolve o caso para sempre.
E alteando a voz:
– Ouçam! – gritou o cardeal –, aquele que acordar mais cedo, é esse que tange o sino!
Dez dias… dez noites…
A escrita delineia o imaginário de nosso romancista, alguém que parecia mesmo fascinado pelas questões do foro e dos processos, e que no romance mencionado no início, teve o Código Civil por inspiração, algo que merece ser perenemente lembrado, sobretudo nos dias atuais, em que a leitura se perde facilmente entre os estudantes de Direito, mas não apenas! Trata-se, pois, de texto facilmente classificável entre um dos melhores que já se produziu sobre Direito & Literatura, antes de se tornar uma espécie de modismo, muitas vezes utilizado para camuflar erudições artificiais, e sem que essa fosse uma preocupação da escrita.
Inteiramente baseado no artigo 219 do Código Civil de 1916, que preconizava, sob pena de prescrição, o prazo de 10 dias (por isso o título do livro: A Décima Noite) para a anulação do casamento por erro essencial sobre a pessoa [2] (aqui, o antigo artigo 178 do Código de 1916) [3], fornecendo narrativa que opõe os enigmas de Édipo e Elektra, frente à frente, diante do desafio da convivência entre um casal que se une sem se conhecer adequadamente, não obstante questões que marcaram a época, como o defloramento anterior da mulher, que enseja conhecimento cultural de um determinado momento da vida nacional.
Aliás, são relevantes as palavras do próprio autor sobre a influência civilística no romance, referindo-se ao artigo 178, § 1º, do Código Civil de 1916, por remissão a outro dispositivo. Dizia nosso romancista oriundo da Atenas Brasileira: “Um desses artigos, o de n.º 219, apresentava esta particularidade, no exemplar que eu tinha sob os olhos: estava marcado com um traço vermelho, com a remessa a outro artigo do mesmo Código, o de n.º 178. Ali se dizia que, no caso de erro essencial de pessoa, verificado após o casamento, os noivos têm o prazo de dez dias para a anulação do matrimônio. Dez dias… dez noites… E logo a imaginação do romancista compôs uma situação dramática que seria toda a estrutura orgânica de seu novo romance” [4].
Os grifos, de nossa autoria, ressaltam – primeiro – a importância de um estudioso anônimo do Direito Civil que, ao grifar o código de vermelho, permitiu que fosse chamada a atenção de um grande escritor como Josué Montello, numa época em que a leitura e a escri(tur)a eram mais comuns entre os estudantes. De outra forma, provavelmente o referido romance baseado no Código Civil de 1916 não teria surgido, ao menos não este belo romance, motivo de nosso segundo destaque, quando Josué Montello, ao citar o poder criador do romancista, não o faz na primeira pessoa do singular, preferindo o pronome possessivo que foi grifado, colocando também algum civilista anônimo como uma espécie de coautor do “poder criador da imaginação do romancista”.
Basta seguir de perto, uma vez mais, o próprio Josué Montello, na parte subsequente: “As figuras da narrativa vieram vindo, com o alvoroço da alucinação benfazeja que salteia o criador à hora da criação”, enquanto prossegue descrevendo os elementos e minúcias da febre que assaltou o escritor: “E todas elas com a sua nitidez de traços, o som de sua voz, o seu modo de ser e de existir, no quadro imposto pelo menino que eu fui: as ruas, as ladeiras, os bairros, os pregões, o bater dos sinos, a luz viva ou desmaiada de São Luís do Maranhão” [5].
O livro, na edição que escorre entre meus dedos (a quinta), ainda contém a congregação de comentários da crítica sobre a obra, como era costume na época, com palavras de assombro pronunciadas por 23 leitores, dentre eles Gilberto Freyre, Jorge Amado, Austregésilo de Athayde, Manuel Bandeira, Raimundo Magalhães Júnior, Aurélio Buarque de Holanda [6].
Na parte final da obra, ainda surge organizada uma bibliografia sobre o livro, reunindo os principais textos que, até aquele período, haviam tratado sobre A Décima Noite, derivados principalmente de jornais. São recolhidos impressionantes 70 artigos [7] que se revezam em destacar dois traços principais para além do tema principal da obra, quais sejam, o fato de um Código inspirar um romance, caso de Amadeu de Aguiar [8], e a maneira como as memórias de São Luís são organizadas e reproduzidas.
Neste último caso, observemos as impressões de Fernando Góes, em sua famosa coluna “Em tom de conversa”, publicada no paulistano Diário da Noite, em 1961: “Extraindo a trama de sua história de um artigo do Código Civil, Josué Montello foi narrando, ou melhor, foi desfiando – para empregar uma expressão sua – os acontecimentos que ocorreram com o seu personagem, desde que, depois de anos em que estudou fora, regressa a S. Luis do Maranhão, sua terra natal”, e prossegue, dando o tom de seu encanto com a obra: “se a história é dessas que prendem e subjugam o leitor, isto acontece, principalmente, porque o romancista, sem se apressar, e com maestria, uma admirável arte de narrar, conduz a novela dentro de um clima emocional perturbador” [9].
Finalizamos estas breves linhas em homenagem a todos os estudiosos do Direito Civil, pois quando recordamos de A Décima Noite, recordamos uma grande homenagem à civilística em geral, homenageando, ainda, aqueles que continuam lendo, riscando e escrevendo sobre temas que renderiam romances infindáveis, aproveitando para homenagear dois juristas em especial: Joaquim Portes de Cerqueira Cesar e José Rossini Campos do Couto Corrêa, pessoas que, assim como Josué Montello, ao citar os contos com que “Patrônio exercitou a agudeza de espírito de seu amo, o Conde Lucanor, na prosa antiga do Infante Juan Manuel”, também nos recordam – embora por palavras diversas e sempre pelos exemplos – que “aquele que acordar mais cedo, é esse que tange o sino!”
*Esta coluna é produzida pelos membros e convidados da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo (USP, Humboldt-Berlim, Coimbra, Lisboa, Porto, Girona, UFMG, UFPR, UFRGS, UFSC, UFPE, UFF, UFC, UFBA e UFMT).
[1] Montello, Josué. A Décima Noite. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976, p. 10.
[2] Eis a redação do art. 219 do Código Civil de 1916: “Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: I. O que diz respeito à identidade do outro cônjuge, sua honra e boa fama, sendo esse erro tal, que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida em comum ao cônjuge enganado. II. A ignorância de crime inafiançável, anterior ao casamento e definitivamente julgado por sentença condenatória. III. A ignorância, anterior ao casamentro, de defeito písico irremediável ou de molestia grave e transmissível, por contágio ou herança, capaz de por em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. IV. O defloramento da mulher, ignorado pelo marido”.
[3] Eis a redação do art. 178 do Código Civil de 1916: “Art. 178. Prescreve: § 1º Em dez dias, contados do casamento, a ação do marido para anular o matrimônio contraído com mulher já deflorada”.
[4] Montello, Josué. A Décima Noite. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976, p. 10.
[5] Montello, Josué. A Décima Noite. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976, p. 10.
[6] A lista completa, para registro, na ordem em que surgem: Gilberto Freyre, Jorge Amado, Ferreira de Castro, Valdemar Cavalcanti, Austregésilo de Athayde, Aires da Mata Machado Filho, Peregrino Júnior, Bernardo Gersen, Múcio Leão, Antônio Olinto, Manuel Bandeira, Wilson Martins, R. Magalhães Júnior, Ledo Ivo, Miécio Tati, Raymundo Souza Dantas, Rolmes Barbosa, Oscar Mendes, Adonias Filho, Aurélio Buarque de Holanda, Marques Rebelo, Virgínius da Gama e Melo, Willy Lewin e Carlos Moliterno. Cfr. Montello, Josué. A Décima Noite. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976, p. 323-330.
[7] O destaque fica para as datas do texto mais antigo em relação a época em que se publicou a 5ª edição: o mais antigo é o texto contido no Diário de São Paulo, a 2/12/1959 (embora conste um erro de digitação referindo 1952, o que seria impossível para uma crítica sobre um livro publicado em 1958). O mais recente texto sobre a obra, na referida seleta, é de 1976, publicado no suplemento literário de Minas Gerais, destacando “O complexo de Édipo na obra de Josué Montello”. Cfr. Montello, Josué. A Décima Noite. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976, p. 331-333.
[8] Eis o artigo: Aguiar, Amadeu de. “Um código inspira um romance”. Em: Jornal de Alagoas, Maceió, 19/08/1962. Cfr. Montello, Josué. A Décima Noite. 5ª Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1976, p. 331-333.
[9] Cfr.: Goés, Fernando. “A décima noite”, em: Diário da Noite (coluna “Em tom de conversa”, São Paulo, 23/01/1961, p. 4.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!