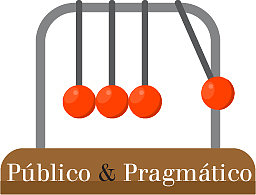O TCU e o custo da burocracia brasileira: quando menos é mais
25 de novembro de 2024, 9h20
Ao ampliar suas competências revirando concessões públicas, paralisando editais e interferindo em governos locais, o Tribunal de Contas da União construiu um projeto de poder sobre um modelo de burocracia arcaico e ineficiente. A multiplicação de camadas de controle dificulta o funcionamento do Estado mais do que economiza recursos. O resultado é um poder público capaz de encenar elaborados rituais de formalismo burocrático, mas incapaz de fornecer serviços adequados à população.

O TCU era um pequeno órgão consultivo criado da República Velha que surfou na onda anticorrupção para conquistar novas atribuições e expandir um modelo de burocracia onipresente e onipotente. Qualquer edital de licitação, contrato, convênio, transferência, concessão, empréstimo oficial e até as contas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) passam pela lupa do TCU. O número de processos em trâmite no tribunal se multiplicou em 400% desde os anos 1990 e atinge quase 40 mil processos/ano.
A questão é que o centralismo burocrático do TCU faz parte de um projeto de poder focado não em promover soluções, mas em encontrar problemas. O tribunal sustenta uma visão de Estado baseada na construção de um controle central absoluto, que distribui obrigações, regras e penalidades a partir de uma torre de marfim alheia à realidade das repartições na base do sistema. A estratégia dificulta o trabalho de funcionários públicos e paralisa o Estado.
A fórmula disfuncional da “burocracia total” se reproduz país afora em controladorias, ministérios públicos, advocacias públicas e outras instâncias de controle. Um exército de fiscais, auditores e promotores sedentos por irregularidades vasculham documentos em busca de erros e omissões para vestir a capa de herói e conduzir o vilão à praça pública. Mas a multiplicação de formalidades e controles é mais parte do problema do que da solução.
Apagão das canetas
O próprio TCU tenta calcular o “custo Brasil” que ele mesmo produz medindo a paralisia do Estado. Contabiliza nada menos do que 52% de obras públicas paradas no Brasil. São 12 mil projetos abandonados, somando R$ 29 bilhões em investimentos, a maioria em saúde e educação. Este prejuízo é fruto do buraco negro da burocracia, que impõe calhamaços de normas e regras e ameaça quem se arrisca a com penalidades severas. Se algum projeto começa, o mais provável é que pare mais tarde.
O efeito ficou conhecido no Brasil como “apagão das canetas”. Frente a um controle imprevisível e implacável, funcionários públicos escolhem cruzar os braços e salvar a própria pele. Do outro lado do balcão, empresários sérios evitam contratos com o governo ou embutem no preço o elevado custo administrativo. Isso reduz a concorrência, encarece produtos, ou pior, fomenta a corrupção, usada para equilibrar contratos e reduzir riscos.
Pesquisa organizada por professoras da FGV comprovou o fenômeno do “apagão das canetas” ao descobrir que 67% dos funcionários públicos em atividades finalísticas dizem que os trabalhos de auditoria de órgãos de controle são guiados por “punitivismo e desconfiança”. Outros 61% entendiam que “os órgãos de controle geram uma carga de trabalho excessiva”. Para fugir do punitivismo e da burocracia sem fim, a resposta é simples: não fazer nada.
Pesquisa feita pelo “Observatório do TCU”, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), descobriu de que o TCU condenou funcionários públicos em 81% dos processos sobre transferências de recursos na educação. As condenações se dão em geral por descumprimento de formalidades: erros e omissões em prestações de contas, contratos e editais. A condenação frequente e generalizada de quem tenta fazer alguma coisa espalha medo e desânimo no funcionalismo.
Custo passivo
Um trabalho conduzido por economistas italianos no final dos anos 2000 concluiu que burocracias centralizadas e hierárquicas ao estilo encabeçado pelo TCU causam um prejuízo muito maior ao Estado do que os desvios que tentam evitar. A pesquisa concluiu que “perdas ativas”, ou seja, as resultantes de desvios, geram custos de 11% sobre as compras públicas. Já as “perdas passivas”, geradas por burocracia e ineficiência, respondiam por 82% do prejuízo.
As “perdas passivas” decorrem do impacto de aparatos de controle, que introduzem dificuldades no processo de compras públicas e atrapalham o andamento de contratos. A pesquisa comparou a compra de bens padronizados em diferentes esferas do poder público italiano para descobrir que, quanto mais centralizado o controle, maior o custo burocrático transferido ao produto, e maior o preço final.
“No geral, nossas descobertas são consistentes com a hipótese de que, no fim das contas, a maioria do desperdício na aquisição de bens genéricos pelo setor público italiano não se deve à corrupção, mas à ineficiência. Nossos resultados não implicam de forma alguma que a corrupção não seja uma questão importante na aquisição pública na Itália. Eles apenas indicam que o desperdício passivo parece ter um efeito ainda maior”, diz a pesquisa.

Segundo os pesquisadores, o problema decorre de estruturas de administração pública de tipo “napoleônico”. Ou seja, modelos de serviço público centralizado, exercido de “cima para baixo”, e executado por funcionários públicos entrincheirados atrás de barricadas de regras, protocolos e regulamentos. A conclusão é de que essas megaestruturas burocráticas geram mais custos e ineficiência do que economia de recursos públicos.
“O principal causador do desperdício “passivo” (ineficiência) parece ser o modo de governança. Os organismos públicos napoleônicos têm o pior desempenho. Autoridades locais, ao estilo dos EUA, têm resultado intermediário, e as agências autônomas são os vencedores da eficiência”, concluem os economistas italianos. Ou seja, se o objetivo é aumentar a eficiência do Estado, menos é mais: melhor dar autonomia e delegar funções do que centralizar poderes.
O critério de menor preço
Outro problema é o apego desmedido a protocolos e procedimentos sem sentido, como a ideia de que as compras públicas devem acontecer sempre pelo “menor preço”. O produto mais barato, como qualquer consumidor sabe, é quase sempre o pior. O resultado é conhecido do dia-a-dia da administração pública: serviços de má qualidade, equipamentos que não funcionam, prédios caindo aos pedaços, ruas esburacadas.
O próprio TCU identificou o problema em um relatório sobre o programa “Minha Casa Minha Vida”, no qual encontrou “vícios construtivos sistêmicos” em 90% das obras. O TCU constatou “falhas na pintura externa, deterioração precoce de pavimento, fissuras não estruturais, problemas em instalações hidrossanitárias, caimento inadequado dos pisos, problemas nas esquadrias”, diz o relatório.
Em todo o mundo cresce a crítica à adoção do modelo de menor preço como sistema padrão nas compras públicas. A combinação de técnica e preço piora a situação ao criar regulamentos inesgotáveis para especificar produto banais, o que torna o processo de compra ainda mais complicado e ineficiente. Uma compra de biscoitos pelo exército americano se tornou notória ao vir acompanhada de um anexo de 26 páginas para definir o que é um “cookie”.
O culto ao “menor preço” torna o processo de controle mais bizarro ao estimular auditorias baseadas em tabelas com “preços de referência”. Ao perseguir a ilusão do “preço mínimo”, o modelo espalha pânico no sistema ao presumir fraude onde há um preço arbitrado como mais alto. O erro é supor que em meio ao caos regulatório, os preços de compras públicas vão convergir para um valor mais baixo. Cada compra pública é um espetáculo de ineficiência em si mesmo.
O problema e a solução
A solução não é mais, mas menos burocracia. Economistas defendem que sem um mínimo de confiança entre os agentes é impossível fazer negócios. É preciso criar estruturas institucionais que promovam transparência e participação da sociedade em processos de compras e na gestão de contratos públicos. O que especialistas têm notado é que descentralizar recursos e delegar responsabilidades é a melhor forma de reduzir o desperdício.
Seria melhor abrir debates para tentar trazer o usuário para mais perto da gestão do sistema público e democratizar os instrumentos de informação e controle para a população. Mas incorporar o personagem do campeão da moralidade contra o dragão da corrupção traz dividendos políticos. Com isso, o TCU e demais órgãos de controle ganham holofotes, mas amarram o país a um modelo de gestão pública ineficiente e ultrapassado.
Politização do TCU
O TCU ampliou sua competência nos últimos anos avocando o controle de governos locais, invadindo o espaço de agências reguladoras, controladorias, advocacias públicas, ditando novas leis ao legislativo e espalhando influência no executivo. Virou revisor geral de acordos de leniência e até mediador de conflitos com a União. A inflação descontrolada de competências carrega um caráter evidentemente político.
Ao escolher para si mesmo o papel de bastião da moralidade e líder supremo da burocracia brasileira, o TCU ganha visibilidade na opinião pública e poder de mando na política nacional. O fato de que quase todos os ministros do TCU têm origem em quadros políticos não ajuda. A maior parte é indicada de forma livre pelo Congresso Nacional entre seus próprios pares.
Na prática, o cargo é negociado entre parlamentares para retribuir quadros de destaque ou dar fim digno à carreira de veteranos qualificados. As vinculações políticas dos quadros do TCU são um evidente empecilho à autonomia e independência do órgão. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 50/2019, assinada por 30 senadores, propõe que os ministros do TCU passem a ser escolhidos apenas entre quadros técnicos do tribunal.
“O que se observa, em suma, é a possibilidade de indicações políticas para ocuparem um órgão essencialmente técnico. Resta evidente que os indicados a ocupar posições de tamanha relevância, em um órgão cuja imparcialidade e tecnicidade devem balizar a atuação, caso tenham vinculação política com quem quer que os tenha indicado, colocará em dúvida a lisura da própria instituição”, justifica o projeto.
O TCU avocou a si o posto de representante máximo da burocracia brasileira a partir de em uma hipótese errada de como funciona o Estado. Uma máquina focada em gerir controles e distribuir penalidades pode aparentar economia e moralidade, mas na prática produz desperdício e ineficiência. Ao buscar visibilidade e projeção política, o tribunal foca no problema, e não na solução. Menos preocupação com o teatro burocrático e mais empenho na prestação de serviços à população podem ajudar.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!