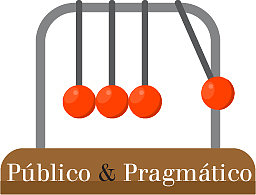Ausência de representatividade da Defensoria no CNMP, no CNJ e nos tribunais
19 de maio de 2024, 6h09
A Lei 10.448/02 instituiu que o Dia Nacional da Defensoria Pública é comemorado, anualmente, no dia 19 de maio.

Tal previsão legal revela-se justa e a mencionada celebração tem razão de ser, já que referida instituição do sistema de Justiça (a mais jovem dentre as previstas no Capítulo IV da Constituição Federal de 1988) foi a única incumbida, expressamente pelo legislador constitucional, de promover os direitos humanos [1] (encontrando-se legitimada, inclusive, a acionar os sistema internacionais de proteção [2]), munus extremamente relevante, ainda mais se considerado que o Brasil, no ano de 2022, foi o quarto país do mundo em que houve o maior número de homicídios praticados contra ativistas da sociedade civil [3].
Constata-se, ainda, que o Poder Constituinte originário adotou o modelo público de assistência jurídica (salaried staff model) e atribuiu à Defensoria Pública a missão de prestar assistência jurídica, integral e gratuita, a todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros (residentes em território nacional) que se encontrem em situação de vulnerabilidade (decorrente de hipossuficiência ou de hipervulnerabilidade, nos termos das 100 Regras de Brasília [4] e de julgados do Superior Tribunal de Justiça [5]).
Conforme sustentamos em sede doutrinária [6], o cotejo entre a Lei Orgânica da Defensoria Pública [7] e a Constituição [8] autoriza concluir, sem margem de dúvidas, que a Defensoria Pública foi a instituição incumbida pelo legislador de garantir a essência do Estado democrático de Direito, viabilizando a efetiva participação dos cidadãos na vida jurídica estatal (exigindo o respeito a direitos individuais e coletivos reconhecidos na Carta Magna) e propiciando, assim, o alcance da tão almejada igualdade material entre os cidadãos.
Importância da Defensoria Pública
Registre-se que o direito de acesso à Justiça e de representação perante os órgãos competentes encontra-se inserido no rol de direitos humanos, sob pena de não haver que se falar na observância do princípio da dignidade da pessoa humana.
Nesse diapasão, André de Carvalho Ramos [9] prescreve que:
“Uma sociedade pautada na defesa de direitos (sociedade inclusiva) tem várias consequências. A primeira é o reconhecimento de que o primeiro direito de todo indivíduo é o direito a ter direitos. Arendt e, no Brasil, Lafer sustentam que o primeiro direito humano, do qual derivam todos os demais, é o direito a ter direitos. (…)
No Brasil, o STF adotou essa linha ao decidir que “direito a ter direitos: uma prerrogativa básica, que se qualifica como fator de viabilização dos demais direitos e liberdades” (ADI 2.903, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 19-9-2008).”
Neste ponto, confira-se trecho de voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE nº 1.240.999/SP [10]:
“A importância da Defensoria Pública para a consolidação da democracia e a realização da justiça social é inegável. (…)
Dessa forma, sempre balizados por premissas constitucionais básicas, como a dignidade da pessoa humana, a busca da cidadania, redução de desigualdades, o acesso universal à Justiça, entre tantos outros, sedimentaram-se objetivos institucionais que foram positivados, quase vinte anos depois, com a promulgação da ora questionada Lei Complementar 132, de 7.10.2009.”
Da leitura atenta dos artigos 3º-A, I, II e III, da LC 80/94 e do artigo 1º, I e II, da CF/88, extrai-se que a cidadania, a dignidade da pessoa humana e a promoção da igualdade material foram definidas pelo legislador constituinte como norte a ser observado em todas as ações desempenhadas pelos Poderes da República, vetores que também constituem a base de atuação da Defensoria Pública, instituição aberta à sociedade civil (oxigenada pela atuação de membro não integrante da carreira no Conselho Superior [11]), e que, por meio da rotina diária de atendimentos, promove a educação em direitos e conhece as demandas da população vulnerável (estrato plural de cidadãos desassistido de políticas públicas), fato que lhe permite exercer a função de ombudsman e priorizar a resolução extrajudicial de litígios [12].

Nesse sentido, o relator ministro Gilmar Mendes proferiu voto nos autos da ADI nº 4.636/DF [13], assentando que: “(…) a Defensoria Pública é verdadeiro ombudsman, que deve zelar pela concretização do estado democrático de direito, promoção dos direitos humanos e defesa dos necessitados, visto tal conceito da forma mais ampla possível, tudo com o objetivo de dissipar, tanto quanto possível, as desigualdades do Brasil, hoje quase perenes”.
Não há, portanto, exagero em afirmar, conforme já o fizemos [14], que a Defensoria Pública constitui o “SUS do Sistema de Justiça” e que os defensores públicos, primordialmente em um país como o Brasil — marcado pela desigualdade de oportunidades e pela necessidade de constante melhoria na prestação de serviços públicos essenciais (relacionados à segurança, saúde, educação, saneamento básico etc.) — são os agentes do sistema de Justiça incumbidos de primeiro fiscalizar a execução das políticas públicas e de adotar, em muitas situações, posturas contramajoritárias (que vão de encontro ao anseio da maioria de ocasião), justamente com o escopo de tutelar os direitos individuais e coletivos dos cidadãos vulneráveis [15].
Parafraseando o compositor Humberto Gessinger [16], podemos afirmar que, em nosso país, somos “todos iguais, mas uns mais iguais que os outros”.
Vácuo
Feitas essas considerações, verifica-se que, passados mais de 30 anos da promulgação da Constituição Cidadã, a Defensoria Pública ainda não está presente em todas as comarcas e subseções judiciárias do país [17], fato que:
(1) contaria o artigo 98, §1º, do ADCT (dispositivo inserido pela EC nº 80/2014) e as Resoluções 2.887/16 e 2.928/18, editadas pela OEA (Organização dos Estados Americanos), e que prescrevem aos países membros o compromisso de fortalecer as defensorias como meio para defesa dos direitos humanos),
(2) incrementa o volume de demandas reprimidas em nosso país,
(3) materializa, na população vulnerável, um sentimento de não pertencimento ao Estado de Direito previsto abstratamente na Constituição da República
e (4) viola o princípio da proibição da proteção deficiente.
Sobre o tema, destaco o seguinte trecho do voto proferido pelo ministro Herman Benjamin, nos autos do AgInt no REsp 1.573.481/PE [18], precedente em que o relator ressalta o importante papel desempenhado pela Defensoria Pública como instrumento do regime democrático:
“A rigor, mormente em países de grande desigualdade social, em que a largas parcelas da população — aos pobres sobretudo — nega-se acesso efetivo ao Judiciário, como ocorre infelizmente no Brasil, seria impróprio falar em verdadeiro Estado de Direito sem a existência de uma Defensoria Pública nacionalmente organizada, conhecida de todos e por todos respeitada, capaz de atender aos necessitados da maneira mais profissional e eficaz possível”.
Ausência de representatividade
Constata-se, ainda, que, além da ausência física da Defensoria Pública em todas as unidades jurisdicionais, a instituição defensorial, diferentemente do que ocorre com a advocacia e o Ministério Público, não tem representatividade nos Conselhos Nacionais do Ministério Público [19] e de Justiça [20], nos Tribunais de Justiça [21], nos Tribunais Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça [22], situação que contraria o entendimento contemporâneo da Suprema Corte acerca da simetria existente entre a Defensoria e o Ministério Público e configura um vácuo legislativo, em tese, inconstitucional em órgãos de sobreposição, denotando que a instituição incumbida de prover justiça aos mais necessitados é justamente a alijada da oportunidade de contribuir com a pluralização do debate nesses importantes espaços de decisão.
Neste ponto, destaco trecho do voto proferido pelo relator ministro Edson Fachin, nos autos da ADI nº 6.852/DF [23], que retrata o atual enfoque conferido pelo STF à posição constitucional da Defensoria Pública:
“Na evolução constitucional e jurisprudencial do papel da Defensoria Pública, o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, representou marco incontestável acerca de sua natureza como instituição voltada à defesa da coletividade, ao alçá-la expressamente ao patamar de expressão e instrumento do regime democrático e lhe atribuir o dever de proteção dos direitos humanos e a tutela de direitos coletivos, abandonando o enfoque anterior, restrito à mera assistência judiciária gratuita. (…)
Nesse sentido, assim como ocorre com o Ministério Público, igualmente legitimado para a proteção de grupos vulneráveis, os poderes previstos à Defensoria Pública, seja em sede constitucional – como a capacidade de se autogovernar – ou em âmbito infraconstitucional – como a prerrogativa questionada de requisição – foram atribuídos como instrumentos para a garantia do cumprimento de suas funções institucionais.”
No mesmo diapasão, confira-se trecho de voto proferido pelo ministro Alexandre de Moraes, nos autos da retrocitada ADI nº 6.852/DF:
“Presente a atual moldura institucional e constitucional da Defensoria, a sua prestação de serviços pode ocorrer em todos os ramos do direito, com particular ênfase na assistência dos hipossuficientes, econômica, social e juridicamente, na proteção da criança e do adolescente, dos direitos de família e do consumidor, no acesso à saúde e moradia, no combate à violência doméstica e na defesa criminal. (…)
Incorporou-se, em nosso ordenamento jurídico, portanto, também em relação à Defensoria Pública, a pacífica doutrina constitucional norte-americana sobre a teoria dos poderes implícitos – inherent powers–, segundo a qual, no exercício de sua missão constitucional enumerada, o órgão executivo deveria dispor de todas as funções necessárias, ainda que implícitas, desde que não expressamente limitadas (Myers v. Estados Unidos – US 272 – 52, 118), consagrando-se, dessa forma – e entre nós aplicável também à Defensoria Pública –, o reconhecimento de competências genéricas implícitas que permitam o exercício de sua missão constitucional, apenas sujeitas às proibições e limites estruturais da Constituição Federal.”
Colaciono, ainda, trecho de voto em que a relatora ministra Rosa Weber, nos autos da ADI 5.296/DF [24], retrata a simetria existente entre a Defensoria Pública e o Ministério Público:
“Não bastasse, a particular arquitetura institucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 74/2013 encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional. (…)
Densificado, assim, deontológica e axiologicamente, pelo Poder Constituinte Derivado o paralelismo entre as instituições essenciais à função jurisdicional do Estado que atuam na defesa da sociedade, sem desbordar do espírito do Constituinte de 1988″.
Categorias apartadas
Convém, ainda, refutar eventual argumento de que o acesso de membros da Defensoria Pública à composição dos referidos conselhos e tribunais poderia se dar por meio das seccionais e Conselho Federal da OAB, já que, conforme definido pelo STF, no Tema 1.074, “É inconstitucional a exigência de inscrição do Defensor Público nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil”.
Naquela oportunidade, o ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE nº 1.240.999/SP [25], acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e definiu que “(…) a alteração constitucional de 2014, que modificou a disposição do Capítulo IV da Constituição Federal, eliminou residuais dúvidas em relação à natureza da atividade dos membros da Defensoria Pública. Tais membros definitivamente não se confundem com advogados privados ou públicos. A topografia constitucional atual não deixa margem a discussão. São funções essenciais à Justiça, em categorias apartadas, mas complementares: Ministério Público, Advocacia Pública, Advocacia e Defensoria Pública”.
Conforme apontamos em artigo publicado no ano de 2022 [26], a Proposta de Emenda Constitucional nº 488/2010, que propunha o acréscimo dos membros da Defensoria Pública no artigo 94, caput, da CF/88 foi apensada à PEC nº128/2007, cujo voto do relator na CCJ delegou o exame da matéria a comissão especial que deveria ser criada para tratar do tema [27]. Ocorre que, até o presente momento, não se tem notícia da instalação da referida comissão.
Importante, portanto, que comemoremos, de forma efusiva, o dia 19 de maio, mas que essa data represente momento para refletir sobre a necessidade de que se assegure à Defensoria Pública meios para que, de acordo com sua autoadministração, possa se desincumbir do seu mister constitucional e se fazer presente, de per si, em todas as esferas, tal como assegurado às demais instituições do sistema de Justiça.
[1] Art. 134, caput, da CF/88
[2] Art. 3º-A, VI, da CF/88
[3] Disponível em: < https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/direitos-humanos/audio/2023-03/brasil-e-o-4o-pais-que-mais-mata-ativistas-de-direitos-humanos> Acesso em 28 abr. 2024.
[4] Disponível em: https://www.anadep.org.br/wtksite/100-Regras-de-Brasilia-versao-reduzida.pdf Acesso em 28 abr. 2024
[5] AgInt no AREsp n. 1.220.572/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 26/3/2019; EREsp n. 1.192.577/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 13/11/2015.
[6] REIS, Rodrigo Casimiro. (Re)pensando Custos Vulnerabilis e Defensoria Pública: por uma defesa emancipatória dos vulneráveis. Maurilio Casas Maia (Org.). São Paulo: Tirant Lo Blanch, 2021. P. 200.
[7] Art. 3º-A, I, II e III, da LC 80/94
[8] Art. 1º, II e III, da CF/88
[9] RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 7. Ed. São Paulo: Saraiva, 2020. P. 33.
[10] Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17/12/2021.
[11] Art. 101, caput, e 105-B, caput, ambos da LC 80/94
[12] Art. 4º, II, da LC 80/94
[13] Tribunal Pleno, DJe 10/02/2022
[14] REIS, Rodrigo Casimiro. Defensoria Pública e Covid-19 no cenário intra e pós-pandêmico/organizadores Alberto Carvalho Amaral, Cleber Francisco Lopes e Maurilio Casas Maia. 1. Ed. Belo Horizonte: D´Plácido, 2021. P. 153/174.
[15] Registre-se que, no ano de 2023, 60,1% da população brasileira recebeu 1 salário mínimo por mês. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2023/12/06/ibge-60-pontos-percentuais-dos-brasileiros-vivem-com-at-1-salrio-mnimo-por-ms.ghtml> Acesso em 28 abr. 2024.
[16] GESSINGER, Humberto. Ninguém=Ninguém. IN: HAWAII, Engenheiros do. Gessinger, Licks & Maltz. Rio de Janeiro: RCA Records, 1992.
[17] Disponível em: <https://pesquisanacionaldefensoria.com.br/pesquisa-nacional-2020/analise-nacional/> Acesso em 28 abr. 2024.
[18] Segunda Turma, DJe 27/05/2016
[19] Art. 130-A da CF/88
[20] Art. 103-B da CF/88
[21] Art. 94, caput, da CF/88
[22] Art. 104, parágrafo único, II, da CF/88
[23] Tribunal Pleno, DJe 29/03/2022
[24] Tribunal Pleno, DJe 26/11/2020
[25] RE n. 1.240.999/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17/12/2021.
[26] Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-fev-19/reis-defensoria-direito-constitucional-compor-tribunais/> Acesso em 28 abr. 2024.
[27] Disponível em: < https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=359981> Acesso em 28 abr. 2024
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!