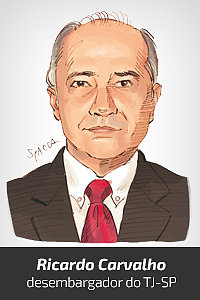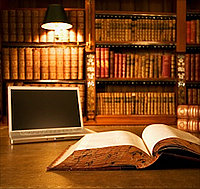Divergência entre área de proteção ambiental e plano diretor
25 de junho de 2024, 19h35
São recorrentes reivindicações de municípios para que o zoneamento da área de proteção ambiental (APA) se adeque ao zoneamento do plano diretor ou outra lei de ordenação do solo urbano [1]. Será que é obrigatória tal compatibilização ou se trata de uma decisão discricionária do ente gestor da APA?

APA é unidade de conservação (UC) que abrange espaços essencialmente alheios ao domínio do ente político que o instituiu. Assim, sua instituição resulta em imposição de limitações administrativas à propriedade.
Na Lei do Snuc (Lei nº 9.985/00), a APA foi definida como UC de uso sustentável (artigo 14), a qual possui “certo grau de ocupação humana” e “tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais”.
Para tanto, sobre elas podem “ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada”, respeitados os limites constitucionais (artigo 15). As limitações administrativas da APA são previstas em seu ato instituidor e no plano de manejo que é documento técnico no qual “se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais” (artigos 2º, XVII, e 27, caput e § 2º, da Lei nº 9.985/00).
Por outro lado, a ordenação das cidades, de competência dos municípios, e instrumentalizada por plano diretor e outras leis de conformação da cidade, impõe igualmente limitações administrativas, inclusive – mas não exclusivamente – ambientais. Ela, afinal, precisa tutelar o meio ambiente, por ser dever do poder público, inclusive o municipal, defender e preservá-lo (artigo 225 da Constituição).
Divergência
Eventualmente há divergência entre o zoneamento da APA e o da legislação local. O presente artigo objetiva traçar parâmetros de solução dessa antinomia, além de diretrizes para a estipulação de limitações administrativas em APA.
As limitações administrativas da APA são manifestações da função socioecológica da propriedade privada que conforma as suas faculdades econômicas às demandas ligadas, entre outras, à tutela ambiental (artigo 1.228, § 1º, do Código Civil). Todos os entes políticos têm competência para criação de APA e para restringir, dentro das balizas constitucionais, o uso de propriedade inserida em UC.
Afinal, a competência executiva para proteção do meio ambiente é comum (artigo 23, III, VI e VII, CF). Acrescenta-se que o poder público — de todas as esferas — foi incumbido de “preservar (…) os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico dos ecossistemas”, bem como “definir (…) os espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos” (artigo 225, § 1º, I e III, CF).
As regras de ocupação da APA eventualmente incidem em áreas sujeitas a outras normas de ordenação do solo, em especial previstas na legislação municipal. Isso não é de se surpreender, tendo em vista que a APA abrange “área em geral extensa” [2].
Ela pode abarcar perímetros urbanos. Além de os municípios poderem eles mesmos criar APAs que eventualmente se sobreponham a APAs estaduais e federais, são eles os entes políticos competentes para delimitar, por plano diretor ou outra legislação, o zoneamento das cidades e para promover a política de desenvolvimento urbano (artigos 30, I, 182, caput e § 1º, CF; artigo 40 da Lei nº 10.257/01).

É natural, portanto, que as disposições de legislação urbanística sejam diversas daquelas previstas em plano de manejo de APA e eventualmente emerja antinomia entre elas. Porém, a antinomia é aparente, porque os regulamentos se assentam em fundamentos diferentes.
A criação da APA decorre da competência material comum para a proteção do meio ambiente, enquanto o zoneamento urbano serve para consagrar a política de desenvolvimento e expansão urbana, de competência exclusiva dos poderes públicos municipais. De um lado, a instituição e normatização da APA estão voltadas à tutela ambiental. De outro, o zoneamento municipal promove a política de desenvolvimento urbano que visa inclusive, porém não apenas, à tutela do meio ambiente. Os regimes, dessa maneira, são sobrepostos e não excludentes.
Aproximação e harmonização
A cooperação entre os entes políticos deve ser refletida na plena participação dos municípios na elaboração do plano de manejo de APA e na gestão colaborativa da UC. Nesse aspecto, a Lei nº 9.985/00 condiciona a criação de UC à prévia realização de consulta pública com sociedade civil e outras partes interessadas, o que abrange representantes dos municípios (artigo 22, §§ 2º e 3º). Os conselhos consultivos ou deliberativos das UCs também contam como representantes da municipalidade (artigo 15, § 5º, da Lei nº 9.985/00; artigo 17, § 1º, do Decreto nº 4.320/02).
De outra parte, também o ideal seria que os municípios, na concepção das normativas de ordenação do solo, levassem em conta as restrições técnicas indicadas nos planos de manejos das UCs. Essa aproximação é salutar [3].
A preocupação com meio ambiente é destacada no Estatuto das Cidades (Cfr. artigos 2º, VI, g, VIII, 4º, III, c, VI, 26, VII, 32, § 1º, § 2º, I, 35, II, 38, 41, V, 42, VI, da Lei nº 10.257/ 01). O equilíbrio ambiental e a garantia do direito a cidades sustentáveis são escopos das normas que regulamentam o uso da propriedade e da política urbana (artigo 1º, parágrafo único, artigo 2º, I).
Em que pese a relevância de cooperação e do diálogo, entretanto, não há subordinação cogente da legislação ambiental ao zoneamento urbanístico. Não é dever da União ou dos estados harmonizar a criação de APA ao zoneamento de planos diretores. Vincular a competência dos demais entes políticos para proteção do meio ambiente à compatibilidade com as decisões dos poderes locais no âmbito de suas legislações afrontaria a autonomia dos entes políticos (artigo 18, CF).
Ademais, na hipótese de uma APA federal ou estadual abarcar diversos municípios, seria contraproducente uma atuação estatal vinculada a todos os planos diretores. Fora a dificuldade metodológica de conciliação integral do plano de manejo a múltiplos planos diretores, as limitações administrativas da APA acabariam por não espelhar as necessidades decorrentes dos atributos socioecológicos do espaço, mas as decisões políticas refletidas na legislação local. A proteção ambiental da UC ficaria segmentada em razão das fronteiras políticas dos municípios, ao invés das demandas ambientais.
Limitações administrativas e imposição de normas
Há, contudo, balizamentos para a previsão de limitações administrativas em APA. As restrições devem passar pelo crivo do ordenamento jurídico. Primeiramente, elas devem ser amparadas nos objetivos dessa modalidade de UC, quais sejam: “proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais” (artigo 15 da Lei nº 9.985/00).
A ausência desse respaldo teleológico de tutela ambiental pode infringir preceitos da Constituição, como o direito de propriedade (artigo 5º, XXII); a legalidade formal (artigo 5º, II) e igualmente as regras de distribuição de competência entre os entes políticos (artigos 18-24; e 30) [4]. Não seria permitido, para elucidar o ponto, que decreto de criação de APA impusesse requisitos para o registro imobiliário de propriedades localizadas na UC. A norma invadiria a competência da União para legislar sobre Direito Civil (artigo 22, I).
O mesmo fenômeno se dá com as normas de ordenação do solo urbano, cuja competência é dos municípios. As limitações administrativas da APA não poderiam, v.g., impor tamanho de calçamento, consentimento de comércio de feirantes em uma praça ou autorização de eventos culturais em certo logradouro público. Essas matérias nada têm a ver com a tutela ambiental e sua disciplina invadiria a competência municipal de planejamento das cidades.
Mas a delimitação do âmbito de restrição legítima nessa seara não se dá necessariamente pelo seu tipo, mas pelo motivo subjacente. Ela deve se pautar em uma razão técnica de proteção ambiental. Um exemplo é esclarecedor.
O plano de manejo em tese não poderia versar sobre gabarito dos prédios. A definição da altura das edificações se insere na competência municipal de ordenar as cidades por imperativos até estéticos. Mas e se estudos técnicos demonstrarem que determinada área é local de migração de aves ameaçadas de extinção cujo voo é raso e que edificações altas colocam em risco a espécie? A imposição, nesse caso, seria legítima.
Além disso, as limitações administrativas, como qualquer exercício de poder de polícia, devem estar atreladas à legalidade e não podem ser desproporcionais (artigo 78 do CTN). Precisam ser aptas a atingir o propósito desejado e menos intrusivas possível aos direitos e liberdades individuais. Elas também não podem ser excessivamente prejudiciais ao administrado em comparação aos benefícios sociais almejados.
São consideradas desproporcionais, por exemplo, a imposição de normas de APA que importe em completo esvaziamento da utilidade econômica dos imóveis, a ponto de configurar desapropriação indireta. A jurisprudência do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) tem reconhecido o direito à indenização por restrições desse jaez que tornem a propriedade non aedificandi, desde que observados certos parâmetros [5].
A restrição fundada em imperativos de proteção da incolumidade das pessoas, no entanto, não será considerada desproporcional (p. ex., previsão de zona non aedificandi em área de risco de enchentes). Aqui o poder público desempenha a função de proteger a dignidade da pessoa humana em sua dimensão de heteronomia [6], para evitar que indivíduos, por pobreza ou por subestimarem riscos significativos (viés de otimismo), explorem livremente sua propriedade colocando em perigo a integridade física de si mesmos e de terceiros.
A jurisprudência do TJ-RJ reconhece o dever de entes públicos de, no desempenho do poder de polícia, impedir/interditar edificação em área de risco ou mesmo de remover famílias em tais situações [7].
Parcelamento do solo em zonas de riscos
Outro exemplo de limitação administrativa em APA para zelar pela incolumidade das pessoas é a restrição/proibição de parcelamento do solo em zonas de riscos, como as sujeitas a alagamentos e inundações. O parcelamento, por loteamento ou por desmembramento, tem o potencial de fracionar as propriedades em terrenos menores, acarretando o crescimento de edificações e infraestrutura, o que, por sua vez, atrai mais residentes e atividades econômicas.
A limitação objetiva a contenção do adensamento populacional, com o propósito de atenuar os riscos de danos ecológicos. A medida encontra respaldo na Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) [8], e é acolhida pela jurisprudência. Cabe chamar à atenção para julgado do Superior Tribunal de Justiça que decidiu pela aplicabilidade de impedimento de parcelamento do solo urbano em APA, mesmo que por força de legislação superveniente à concessão das licenças ambientais e urbanísticas do projeto de parcelamento [9]. O TJ-RJ, ao seu turno, chegou a reconhecer a responsabilidade civil de município que autorizou o parcelamento em descompasso com as restrições de APA [10].
Legitimidade
Pontua-se, todavia, que qualquer limitação administrativa de APA deve se assentar em justificativa técnica, sob pena de ser arbitrária. Como se está diante de direito fundamental, a diminuição da autonomia para fruição das faculdades econômicas da propriedade por imperativos coletivos requer legitimidade.
Vale frisar que a limitação administrativa em apreço não decorre de lei, mas de normas infralegais. Afinal, criação de UC independe de lei em sentido estrito. Basta ato do poder público, comumente decreto executivo, precedido de estudos técnicos e de consulta pública (artigo 22, caput e § 2º, da Lei do Snuc) [11]. Assim, ela carece da mesma legitimidade democrática que normas emanadas do Poder Legislativo. O que confere legitimidade a essa restrição é a discricionariedade técnica respaldada em estudos.
Por todo o exposto, em que pese a relevância de cooperação e diálogo institucional, não é dever do ente político instituidor da APA harmonizar a criação e a regulamentação da UC ao zoneamento definido por legislação municipal, mesmo por plano diretor. Mas fica o alerta de que as limitações administrativas incidentes em APA devem ser proporcionais e amparadas em motivo técnico pertinente à tutela ambiental.
[1] Cita-se a título exemplificativo ofício de Município situado na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro ao Instituto Estadual do Ambiente para alteração de decreto de instituição da APA do Alto Iguaçu e do seu plano de manejo, a fim de permitir loteamento de espaços inseridos na zona da UC em que é vedado o parcelamento do solo. (Cfr. Parecer n° 10/2023-LDQO, da Procuradoria do Inea, de minha lavra).
Menciona-se igualmente o projeto de lei nº 2455 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de autoria do deputado Carlos Minc. Ao dispor sobre as APAs, o projeto, em razão de pleitos de Municípios, estatui, no art. 16, § 2º, que “todas atividades deverão ser planejadas e empreendidas em estreita articulação com as poderes públicos municipais, buscando-se harmonizar o zoneamento da Área de Proteção Ambiental com aquele estabelecido nos Planos Diretores Municipais”.
[2] Art. 15 da Lei nº 9.985/00.
[3] Cfr. BEZERRA, Maria do Carmo de Lima. A Necessária articulação entre os instrumentos de gestão de APA urbanas e plano diretor. Revista Eletrônica de Estudos Urbanos e Regionais. Ano 6, set. 2015, p. 36-45
[4] Sobre balizamentos de planos de manejo de APA, ANTUNES, Paulo de Bessa; ALENCAR, Dilermando Gomes. Planos de Manejo e Legalidade. <https://blog.grupogen.com.br/juridico/areas-de-interesse/ambiental/planos-de-manejo-e-legalidade/>. Acesso em 21 jun 2024.
[5] Cfr. 0007138-91.2009.8.19.0068 – Apelação. Julgamento: 14/9/2021; 0100877-20.2012.8.19.0002 – Apelação. Julgamento: 5/11/2019; 0012073-10.2016.8.19.0011 – Apelação. Julgamento: 25/6/2019.
Não faz jus à indenização, segundo o entendimento do TJ-RJ, o administrado que adquire o bem após o ato normativo ou administrativo que instituiu a restrição. (Cfr. 0000164-04.2010.8.19.0068 – Apelação. Julgamento: 28/03/2017)
[6] BARROSO, Luís Roberto. A Dignidade da Pessoa Humana no Direito Constitucional Contemporâneo. Helo Horizonte: Fórum, 2013, p. 87-98.
[7] APL: 00014746820168190057, Julgamento: 25/2/2021; TJ-RJ – APL: 00221998520128190003, Julgamento: 15/5/2019.
[8] Art. 3º, parágrafo único.
[9] STJ – REsp: 1440414, relator: ministro Herman Benjamin, Julgamento: 2/6/2016, 2ª Turma.
[10] TJ-RJ – REEX: 00039708620048190026, Publicação: 22/11/2012.
[11] art. 225, III, CF.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!