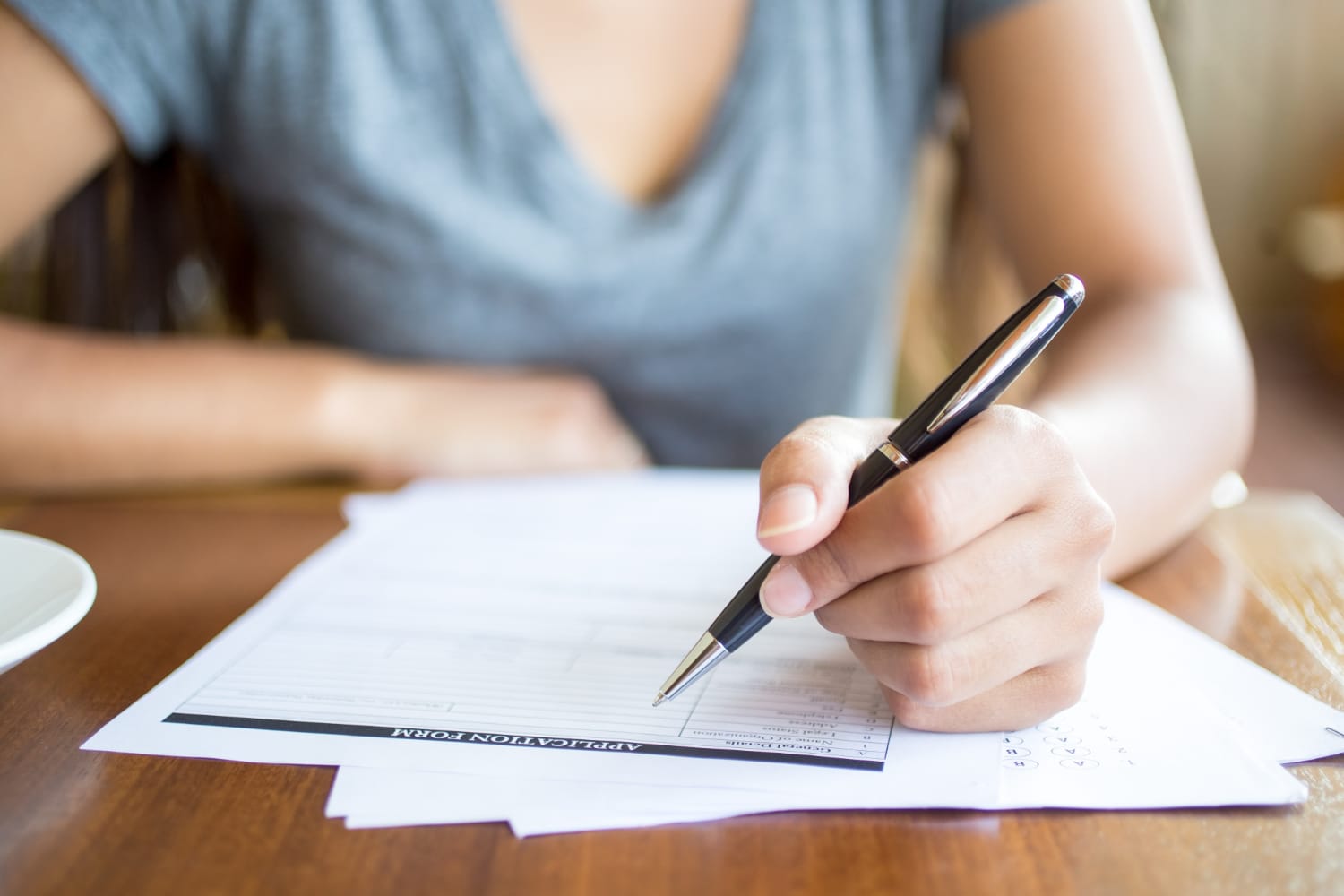Políticas públicas são exigíveis apenas do Executivo?
20 de junho de 2024, 8h00
O tema da exigibilidade do desenho de políticas públicas pela administração já se consolidou na agenda de pesquisa, associado ainda ao desdobramento natural dessa questão, a saber, os limites objetivos e subjetivos do controle dessas mesmas opções estratégicas. O debate se amplia para incorporar questões afetas ao processo de delineamento desses programas de ação, bem como os critérios aplicáveis à mensuração de seus resultados – os previstos, e os imprevistos, decorrentes de externalidades próprias ao cenário dinâmico em que opera a administração. Evidente os ganhos também no plano da transparência, de um modo de atuação do Poder Executivo que explicita quais sejam seus objetivos, e a métrica que se aplicará para esse mesmo resultado. A pergunta que se propõe neste ensaio é a seguinte: não decorreria, do texto constitucional, conhecer igualmente quais sejam as políticas públicas conduzidas pelas demais estruturas institucionais de poder?
O reconhecimento da exigibilidade de políticas públicas a serem concretizadas pela administração se tem por creditado à solução de engenharia constitucional, trazida pela Carta de 1988, que transcende ao velho modelo de desenho do poder, para subordinar este mesmo poder a fundamentos específicos, e ainda a uma orientação finalística, traduzida não só nos objetivos descritos no artigo 3º, mas em todo o elenco de direitos fundamentais consagrados no texto. De em Estado que se exige compromissos específicos com limites e resultados, é natural que se indague em relação aos caminhos de concretização desse mesmo projeto de transformação social.
A intuitiva proximidade entre as atividades exigíveis do Estado orientadas à observância do direcionamento constitucional, e a noção de serviço público, conduziu a centralizar-se no Executivo a preocupação quanto ao modo de construção e de execução do percurso de concretização de seus deveres. O amadurecimento desse debate permite, todavia, propor um estágio subsequente de reflexão, em que se discute a exigibilidade desse mesmo método de atuação em relação às demais estruturas institucionais constitucionalmente previstas.
Contrapoderes
Optou a Constituição de 1988 por uma complexa solução de engenharia constitucional, na qual, a par das estruturas especializadas de poder tradicionalmente conhecidas (Executivo, Legislativo e Judiciário), se tem ainda unidades organizacionais que se identificam como contrapoderes – inseridas no arcabouço formal de poder, mas orientadas à vocalização de interesses outros que não aqueles necessariamente manifestos pela maioria contingente de plantão. Nessa categoria, identifica-se por excelência o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia de Estado, cada qual com sua função constitucional específica.

Na busca da consolidação de seu espaço institucional específico – indispensável à sua aptidão para o desenvolvimento da função de contrapoder – cada qual delas reforçou seu argumento de autonomia, em tese para assegurar o necessário afastamento das opções de parte das estruturas tradicionais. O ponto de atenção reside em saber se o argumento de autonomia – formalmente reconhecida, ainda que por subsequente emendamento constitucional – assegura algum tipo de blindagem em relação às opções estratégicas desenvolvidas por essas mesmas instituições. Afinal, argumentar-se que a ação institucional se funda na autonomia é dispensar-se de declinar qual seja o a orientação tática da organização – o que me parece incompatível com o texto constitucional como um todo.
Três linhas de argumentação
Primeiro argumento em favor da exigibilidade do desenho e de políticas públicas – e sua respectiva publicização – em relação às estruturas de contrapoder decorre da circunstância de que, em que pese sua não subordinação às escolhas das estruturas institucionais historicamente identificadas por Montesquieu, nem por isso elas se têm por dispensadas de concorrerem para a concretização dos compromissos constitucionais tanto cobrados do Poder Executivo. Nesses termos, organizar sua própria atuação institucional por meio de estratégias específicas, e que tenham uma perspectiva de produção de resultados antecipados quanto ao seu conteúdo possível, é dever constitucional de tais aparatos, tanto quanto o é da administração pública.
Segundo argumento decorre do sentido que se veio a conferir à garantia constitucional da autonomia – que se tem sustentado assista não só à instituição em si, mas igualmente a cada qual de seus membros. Nesses termos, identifica-se no leque de possibilidades de atuação, a concorrência – quiçá, a colisão – de iniciativas de integrantes da mesma instituição. O efeito adverso é intuitivo na colisão de iniciativas, que traduz uma atuação institucional quase que autofágica. Mesmo no caso de concorrência de iniciativas, tem-se uma estratégia equivocada, eis que se dispersam os esforços e os recursos materiais e imateriais da instituição.
Terceira linha de argumentação que suporta a proposta de que também as instituições de contrapoder devam organizar sua ação por intermédio das correspondentes políticas públicas, diz respeito ao indiscutível trade off que se verifica quando da eleição de prioridades de atuação, em especial na persecução jurisdicional de obrigações de fazer ou não fazer. Considerados os limites naturais da própria capacidade de gestão de demandas judiciais, tem-se como resultado inevitável a circunstância de que a prioridade conferida, por exemplo, às postulações no campo da saúde redunde em secundarizar a busca de melhorias no campo da educação ou ambiental. Essa opção institucional, ainda que possa encontrar sustentação constitucional, é de merecer a devida transparência, como mecanismos inclusive de legitimação de uma atuação como substituto processual, ou mesmo como estrutura indutora de ações públicas alinhadas com as prioridades constitucionais.
Consensualismo e volta ao modelo pré-Constituição
Outro campo a reclamar a devida parametrização por intermédio de políticas públicas é a utilização de mecanismos consensuais de composição de conflitos, hoje louvada como alternativa mais eficiente do que a simples judicialização. Aqui tem-se ainda mais evidente o imperativo de conhecimento das premissas institucionais que permitem que a situação “A” admita a transigibilidade, enquanto o evento “B”, aparentemente assemelhado, não comporte essa mesma composição. No campo dos mecanismos alternativos, tem-se a transação envolvendo interesses que não se resumem aos limites das referidas instituições. Conhecer, portanto, os termos em que se desenhem as janelas de oportunidade para composição; os parâmetros que orientem a atuação de seus membros autônomos revela-se fundamental.
Foi o estabelecimento de compromissos finalísticos ao Estado que permitiu, sob a égide da Constituição de 1988, a emancipação de uma visão reducionista do controle, que se limitava às fronteiras da legalidade estrita. Não é da presença do Estado-Administração que decorre a legitimidade de suas políticas públicas, mas de seu alinhamento, de seu caráter verdadeiramente instrumental à concretização dos objetivos fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro. Esse o contexto que, já no texto original, reclamou uma engenharia constitucional que contemplasse instituições de controle como as já referidas de contrapoder.
A gênese de seu espaço de atuação institucional reside no propósito de materialização do projeto de transformação veiculado na Constituição de 1988. Ignorar o imperativo de, também neste campo, pautar-se a atuação da estrutura de poder por políticas públicas institucionais adequadamente construídas e monitoradas é voltar ao modelo pré-Constituição, assumindo que a ação de controle se legitima não por seus resultados, mas simplesmente porque foi desenvolvida pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública.
Enunciação clara das estratégias
É de se ter em conta, todavia – e o texto já aludiu a Montesquieu – que é inevitável que o poder abuse do poder. Nestes termos, também instituições revestidas de autonomia, que detêm relevante capacidade de bloqueio, ou mesmo de direcionamento da atuação da administração pública, podem se ver tentadas a esse mesmo equívoco. Assim, é a enunciação clara de suas estratégias de ação – políticas públicas institucionais – que servirá de mecanismo preventivo quanto a esse indesejado desvio de percurso. Mais do que isso, é o prestígio à investigação dos problemas públicos a desafiar sua atuação; a dedicação a um planejamento estruturado para seu enfrentamento, e ainda a existência de mecanismos de mensuração dos resultados alcançados que permitirá um aprendizado institucional que qualifique a ação dos contrapoderes.
Aprendemos, nos últimos anos, a relevância de políticas públicas estruturadas, como mecanismo de otimização dos recursos limitados. Em boa hora essa pauta se colocou em relação ao Executivo. O momento é chegado para que os mesmos argumentos levem à conclusão de que também das estruturas de contrapoder – que tem direcionamento constitucional em relação a qual deva ser o resultado de sua atuação – se pautem por esse mesmo instrumento de organização estratégica. A sociedade brasileira merece esse avanço.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!