Depois de um hiato de décadas, a fronteira norte do Brasil tem presenciado novamente, nestes primeiros anos da década de 20, uma crescente tensão política, social, étnica e econômica em torno do garimpo, qualificada pela envergadura étnico-ambiental relacionada às comunidades indígenas.
Os efeitos nocivos do garimpo ilegal sobre terras indígenas, em Roraima, têm trazido à tona uma página que parecia virada na história do estado. As preocupações não são apenas de ordem jurídica — crimes que ocorrem na localidade —, mas também e especialmente sob o aspecto ambiental e étnico.
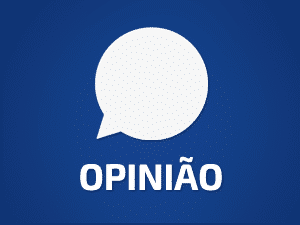
Esse esforço tem confrontado, de um lado, comunidades indígenas e ambientalistas e, de outro, grupos econômicos e políticos interessados na regularização da atividade garimpeira em terras indígenas. É fato que as atividades ilícitas em comunidades indígenas não são uma novidade na República, mas certamente foi por demais acentuada na última década, com um fluxo assustador de invasores na terra indígena Yanomami (TIY), que resultou na crise humanitária de 2023.
Esse cenário horrendo foi sedimentado em flagrantes omissões da União, que implementou em seus órgãos políticas públicas de evidente afastamento da proteção étnico-ambiental dos povos indígenas.
Daí é possível evidenciar que a crescente do garimpo ilegal na TIY gerou uma repercussão extremamente negativa, atingindo três pontos relevantíssimos e interligados ao povo yanomami: saúde, meio ambiente e cultura. Tais questões são elementares à sobrevivência da comunidade, que essencialmente se utiliza dos recursos naturais como principal catalisador de sua sobrevivência.
Os resíduos da mineração e a utilização do mercúrio chegam a percorrer vários afluentes dentro da TIY, mas também atingem, conforme estudos realizados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o pescado do rio branco, principal curso de água de Roraima, que atravessa, inclusive, a capital do Estado (Boa Vista).
As consequências ambientais são severas. Além da contaminação dos principais cursos d’água com mercúrio e sedimentos minerais, o garimpo significa retirada de vegetação nativa, acúmulo de lixo e detritos, afastando e reduzindo espécies animais. Independentemente do que se tente argumentar, as comunidades indígenas yanomami, localizadas no estado de Roraima, já perderam em grande escala a dignidade, o meio ambiente sadio e apto à qualidade de vida e, drasticamente, traços culturais elementares à sobrevivência étnica.
Evidencia-se, portanto, que a União, desde 2018, sobretudo por suas omissões, levaram diretamente a um rápido aumento da mineração ilegal, desmatamento e violência contra os Yanomami. O Estado, infelizmente, foi cúmplice da violência étnico-ambiental contra o povo yanomami e, em razão disso, contribuiu incontestavelmente para a ocorrência de danos sociais e morais coletivos.
Danos sociais são lesões à sociedade, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral — principalmente a respeito da segurança — quanto por diminuição na qualidade de vida. O dano socioambiental, em terras indígenas, tem tido consequências irreversíveis, já que compromete a sobrevivência desses povos e a manutenção de sua cultura.
A União há muito tempo sabia dos reflexos da atividade garimpeira na TIY, contudo, ao invés de promover medidas eficazes na proteção do meio ambiente, permitiu a entrada de aproximadamente 20 mil garimpeiros, com uso excessivo, recorrente e ilegal de mercúrio, além das demais degradações ambientais evidenciadas.
Isso porque fica a cargo da União o dever de preservar o meio ambiente nessas localidades, além de promover toda a segurança pública necessária a evitar a prática de ilícitos que possam vulnerar o meio de vida essencial à preservação étnica, conforme dispõe o § 1º, do artigo 144 da CF/88. No mesmo sentido, é de competência da União, por meio de seus órgãos especializados, a exemplo do Ibama, ICMBio e Funai, promover ações coordenadas em defesa do meio ambiente e cultura das comunidades indígenas, além do atual Ministério dos Povos Originários.
A responsabilidade civil do Estado não se limita a comportamentos comissivos dos agentes públicos, já que a omissão do poder público também é passível de imputação de responsabilidade civil. É nesse sentido que se avançou no microssistema de responsabilidade, a fim de se defender a responsabilidade objetiva do Estado, mesmo quando este figura como poluidor indireto.
A de se lembrar, ainda, os encaminhamentos normativos da Convenção 169 da OIT, eis que em seu artigo 4º impõe a adoção de “medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados”. Ademais, os “governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse”. (artigo 14. 2)
Tornou-se imperativo, nos termos da Convenção 169 da OIT, que “os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam” (artigo 7, 4).
A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas é categórica ao traçar linhas normativas aos estados, no sentido de que “os Estados também adotarão medidas eficazes para garantir, conforme seja necessário, que programas de vigilância, manutenção e restabelecimento da saúde dos povos indígenas afetados por esses materiais, elaborados e executados por esses povos, sejam devidamente aplicados.” (Artigo 29 – 3).
Esse cenário de degradação peculiar na TIY é reflexo do que se chama de racismo ambiental, que denuncia que a distribuição dos impactos ambientais não se dá de forma igual entre a população, sendo a parcela marginalizada e historicamente invisibilizada a mais afetada pela poluição e degradação ambiental.
A ganância e o preconceito — ingredientes essenciais ao racismo ambiental — tratam o território como se ele fosse deserto de vidas. Como se terra, água e floresta, os três habitats que delimitam os espaços de vida e trabalho das populações tradicionais na Amazônia (Witkoski, 2010 citado por Edu Cezimbra), não fossem ocupados por seres humanos que ali nasceram e cujos ascendentes ali constituíram suas moradias, seus meios de sobrevivência, suas tradições, seus laços de parentesco e de amizade.
A ausência do Estado consentiu com a invasão e permanência de garimpeiros ilegais nas terras indígenas yanomami, contribuindo na escalada da atividade de mineração ilegal a afetar não só o meio ambiente ou o espaço territorial, mas sobretudo a sobrevivência da cultura de um povo. É urgente, portanto, reparar os danos étnico-sociais praticados, permitidos e fomentados na terra indígena yanomami, sob pena de negarmos a existência de um povo e corrermos o risco eloquente de etnocídio.
Referências
BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República.
CEZIMBRA, Edu. Racismo ambiental e lutas por reconhecimento dos povos de floresta da Amazônia, 2017. Disponível em: https://educezimbra.wordpress.com/2017/01/17/racismo-ambiental-e-lutas-por-reconhecimento-dos-povos-de-floresta-da-amazonia/.
NOTA TÉCNICA FIOCRUZ, 2022. Disponível em < https://informe.ensp.fiocruz.br/assets/anexos/ff51a29762190d78a7da62fa06d2751e.PDF>.
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Convenção n. 169 sobre povos indígenas e tribais e resolução referente à ação da OIT. Brasília: OIT, 2011.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDADES, 2008. Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
