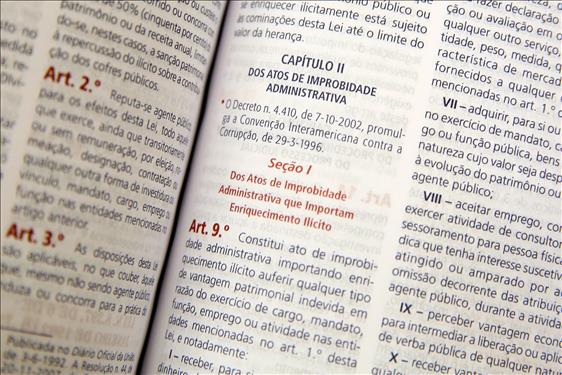Interpretações sobre a cláusula de retomada no seguro-garantia em obras públicas
14 de janeiro de 2024, 8h00
Com o encerramento da vigência da Lei nº 8.666/1993, o Brasil inicia um capítulo promissor e desafiador na gestão de licitações e contratos públicos. Essa transição representa uma evolução significativa no modo como o setor público interage com fornecedores e demais atores do mercado. A Lei nº 14.133/2021 surge com uma série de inovações e abordagens reformuladas, a partir da promessa de adaptar a forma como o poder público compra às necessidades contemporâneas de eficiência e transparência na administração pública.
Apesar dessas inovações, a implementação prática da nova lei ainda navega em águas relativamente inexploradas. Com quase três anos desde a sua sanção, o uso da nova legislação foi limitado [1], resultando em uma escassa produção jurisprudencial. Mesmo sendo uma legislação detalhada e abrangente em vários aspectos, ela ainda deixa questões em aberto.
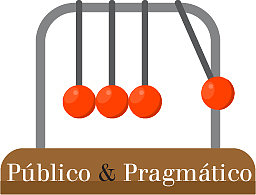
Este artigo propõe-se a mergulhar em algumas dessas lacunas, especificamente no que diz respeito ao seguro-garantia e o novo papel das seguradoras nos contratos administrativos, explorando algumas das ambiguidades e desafios na interpretação e aplicação da Lei nº 14.133/2021.
O performance bond nas licitações brasileiras
No tema das garantias contratuais, a grande novidade está no artigo 102 da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a possibilidade de o edital de licitação para obras e serviços de engenharia exigir a prestação de seguro-garantia com cláusula de retomada, pela qual a execução do contrato poderá ser assumida pela seguradora em caso de inadimplência do contratado.
Trata-se de uma forma encontrada pelo legislador para replicar um instituto já consagrado nas licitações estrangeiras: o performance bond. Nos EUA, o performance bond é uma modalidade de seguro em que a seguradora se responsabiliza pela execução completa do projeto em caso de inadimplemento do contratado (tomador). Nesse arranjo, que envolve uma relação muito próxima entre a seguradora, o contratado e a administração, a seguradora mantém uma supervisão ativa sobre o projeto, incentivando o cumprimento de todas as obrigações contratuais por ambas as partes. Em caso de inadimplência do contratado, ela deve assegurar a continuidade da execução até a conclusão, por conta própria ou por um terceiro contratado [2].
Com efeito, o inciso I do artigo 102 da Lei nº 14.133/2021 prevê que a seguradora deverá firmar o contrato e os aditivos como interveniente anuente e poderá a) ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal; b) acompanhar a execução do contrato principal; c) ter acesso a auditoria técnica e contábil; e d) requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento. Em adição, a Circular Susep nº 662/2022, que regulamenta os seguros-garantia no Brasil, também prevê, além do acompanhamento da execução, que a seguradora poderá atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre segurado e tomador e/ou prestar apoio ou assistência ao tomador, desde que acordado pelas partes e previsto na apólice de seguro-garantia.
Contudo, a importação para o Direito brasileiro também veio com algumas adaptações. Aqui, a Lei nº 14.133/2021 limitou a extensão da responsabilidade da seguradora pelas ocorrências atribuídas ao contratado, fixando teto para a exigência de garantia em 5% do valor inicial do contrato, autorizada a majoração em até 10% mediante análise da complexidade técnica e dos riscos envolvidos. Para obras e serviços de engenharia de grande vulto (superiores a R$ 239,6 milhões), o limite sobe para até 30% do valor inicial do contrato.
A intenção em fixar tais limites é evitar uma oneração excessiva dos contratos e preservar a competitividade nos certames, tanto pelos altos custos envolvidos na contratação de seguros com cobertura total, o que representaria um custo proibitivo para muitas empresas e uma verdadeira cláusula de barreira de novos competidores, quanto pela diminuição de oferta no próprio mercado securitário.
Contudo, isso faz com que os benefícios da adoção do mecanismo também sejam limitados. Ao estipular um percentual do contrato a ser garantido (de até 5, até 10 ou até 30%, conforme o caso), o estímulo da seguradora para fiscalizar a execução contratual e mediar a relação entre as partes é significativamente menor do que seria caso respondesse, com seu patrimônio, pela integralidade da execução, como ocorre lá fora [3].
O objetivo é concluir a obra
A cláusula de retomada guarda certa similaridade com a chamada cláusula de step-in rights, inaugurada no Direito brasileiro a partir das alterações promovidas pela Lei nº 13.097/2015 às Leis nº 8.987/1995 (Lei das Concessões) e 11.079/2004 (Lei das Parcerias Público-Privadas).
Pelo artigo 27-A da Lei de Concessões e artigo 5º, § 2º, inciso I da Lei das Parcerias Público-Privadas, a administração pode autorizar a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária (ou da sociedade de propósito específico) pelos financiadores e garantidores, com os quais não mantenha vínculo societário direto, para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços. O objetivo, naquelas leis, é permitir que financiadores e garantidores possam, diante do risco e inexecução do contrato pelo concessionário, assumir temporariamente a concessão para “ajustar a rota”, evitando a perda dos investimentos e garantindo a continuidade da concessão.
A diferença maior reside no fato de que a cláusula de retomada da Lei nº 14.133/2021 não prevê a assunção do contrato pela seguradora de forma temporária e em momento anterior à inexecução do contratado. Pelo contrário, a seguradora poderá assumir a execução do contrato quando houver a inexecução por parte do contratado, devendo concluir a obra (conforme reiteradamente afirmado no caput e incisos do artigo 102) e entregar o objeto à administração, cuja execução poderá ser realizada por si ou por subcontratados.
Adoção justificada
No contrato garantido por seguro-garantia com cláusula de retomada, há incentivo direto para que a seguradora adote um papel mais ativo no contrato, monitorando de perto a execução pelo contratado. Mas não é só. Diante da sua responsabilidade direta pela conclusão do objeto (ou o pagamento do valor segurado na apólice), a cláusula também incentiva as seguradoras a avaliarem com muito mais cuidado os tomadores, preterindo aqueles com elevado risco de não ter capacidade de cumprir com as obrigações assumidas. A maior beneficiada, nessa relação, é a administração.
Contudo, é preciso ter em mente que tais vantagens vêm a um custo. A exigência de garantia com cláusula de retomada aumenta o risco para a seguradora, que pode ter que lidar com questões fora de sua especialidade em caso de inadimplemento do segurado. A seguradora, que não é uma empreiteira e não tem expertise em execução de obras, provavelmente precisará subcontratar a continuidade da execução, assumindo o risco de inadimplemento também por esse subcontratado, o que a sujeita a sanções administrativas [4].
Tais riscos e responsabilidades assumidos pela seguradora, em tese, encarecem e limitam a oferta de garantias no mercado, o que pode vir a impactar não só o valor das propostas das licitantes, mas também a competitividade nas licitações.
Neste cenário, não se pode perder de vista que o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal permite a formulação apenas de exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Portanto, ainda que o artigo 102 da Lei nº 14.133/2021 não exija expressamente justificação pelo gestor, entendemos que a adoção dessa cláusula deve ser bem fundamentada e associada a uma avaliação criteriosa dos riscos envolvidos no contrato.
Execução ou indenização
Ao prever a cláusula de retomada, o artigo 102 da Lei nº 14.133/2021 menciona que o edital poderá “prever a obrigação de a seguradora, em caso de inadimplemento pelo contratado, assumir a execução e concluir o objeto do contrato”. Nos modelos de editais elaborados pela Advocacia-Geral da União [5], a regra também ganha sentido imperativo: em caso de inadimplemento pelo contratado, “a seguradora deverá assumir a execução e concluir o objeto do contrato”.
Contudo, como visto acima, a própria Lei nº 14.133/2021 estabelece limites para a exigência de garantia, não se podendo falar então que a seguradora teria responsabilidade sobre a totalidade do contrato.
Para conciliar a necessidade de dar efetividade à cláusula de retomada e à obrigação de a seguradora assumir o contrato inadimplido, respeitando-se, contudo, montante efetivamente garantido pelo seguro-garantia, o parágrafo único do mesmo artigo 102 estabelece duas possíveis consequências em caso de inadimplência do contratado:
“I – caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar a importância segurada indicada na apólice;
II – caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância segurada indicada na apólice.”
A leitura conjunta do caput e parágrafo único do artigo demonstra uma clara predileção do legislador pela primeira solução, evitando que a administração precise assumir a obra paralisada. E a forma — bastante inteligente — encontrada pelo legislador para incentivar a seguradora a adotar esse caminho e, ao mesmo tempo, respeitar o limite da garantia exigida, foi prever que a seguradora, caso não aceite assumir a execução do contrato, deverá pagar a integralidade da importância segurada.
Aqui, a regra prevista no inciso II ganha uma dupla função: a primeira, indenizar a administração pelo prejuízo sofrido com a paralisação da obra, em um montante preestabelecido; a segunda, fixar de antemão a consequência jurídica para o descumprimento à obrigação de assumir a execução do contrato.
Observa-se, em contraposição, que o artigo 21, inciso I, da Circular Susep nº 662/2022, não fala em integralidade do valor da apólice, mas sim que a indenização será feita mediante “pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo tomador e garantidos pela apólice em decorrência da inadimplência da obrigação garantida”, até o limite da apólice. Veja-se aqui que a circular não fala em integralidade da importância segurada, mas em “prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo tomador”. Contudo, a nossa posição é que, em contratos públicos garantidos por seguro-garantia com cláusula de retomada, não é possível aplicar interpretação que afaste a taxatividade do inciso II do parágrafo único do artigo 102 da Lei nº 14.133/2021 em relação ao montante da indenização.
Como defendido, ao nosso ver, a regra prevista na Lei nº 14.133/2021 reafirma a preferência do legislador pela assunção do contrato pela seguradora e estabelece uma forma de compeli-la a dar seguimento à execução — que, do ponto de vista da administração, representa uma solução mais vantajosa do que buscar outro interessado para continuar o objeto.
Já para a seguradora, a resposta quanto à vantajosidade de uma ou outra alternativa (executar ou indenizar), dependerá de uma análise casuística, a partir do valor garantido pela apólice e do estágio de execução da obra. Haverá casos em que será economicamente vantajoso pagar a indenização — por exemplo, quando o valor da apólice for relativamente baixo, quando o contrato tiver sido paralisado em estágio inicial e/ou quando a assunção do contrato aumentar significativamente o risco de agravamento do prejuízo. Por outro lado, poderá haver casos em que, dado o avançado estágio de execução e/ou o significativo valor da garantia prestada, assumir a responsabilidade pela conclusão do objeto se apresente como a melhor saída [6].
Ou seja, ao final caberá à seguradora avaliar e optar entre descumprir a obrigação de assumir o contrato ou indenizar a administração, exceto se a própria contratante, por alguma razão de interesse público, optar por não retomar a obra ou licitá-la novamente, hipótese em que a seguradora se desobrigará do dever de assumir a obra e de indenizar.
Habilitação da seguradora ou subcontratado
Uma última lacuna deixada pela Lei nº 14.133/2021 diz respeito às exigências que devem, ou não, ser feitas da seguradora ou da subcontratada indicada por ela para concluir o contrato. Estamos a nos referir, especificamente, aos documentos de habilitação exigidos na licitação que deu origem ao contrato.
A dúvida é agravada porque o inciso II do artigo 102 limita-se a afirmar que “a emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal”, sem mencionar se os demais documentos de qualificação seriam também necessários.
A posição defendida por Niebuhr é de que não seria admissível a execução do contrato por quem não demonstre possuir a qualificação necessária, compreendida como aquela que cumpre os requisitos mínimos definidos pela administração no instrumento convocatório e reputadas indispensáveis para a garantia do cumprimento das obrigações contratuais (artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal). Assim, para o autor, a administração não poderia dispensar o que ela própria qualificou, com base no termo constitucional, como indispensável, sob pena de afronta ao artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal e aos princípios do interesse público e da eficiência [7].
Acrescemos à posição do autor algumas observações. As qualificações exigidas em um processo de licitação refletem as necessidades específicas do projeto no momento da licitação, ou seja, a integralidade do objeto. No entanto, salvo em caso de inadimplemento do contratado em estágio ainda inicial do contrato, o cenário não será mais o mesmo no momento em que a seguradora assumir a responsabilidade pela execução do contrato, justamente porque uma parcela do objeto já foi executada pelo contratado original. A isso soma-se que a seguradora pode delegar diferentes partes do contrato a subcontratados, se o objeto permitir tal parcelamento.
Portanto, a avaliação da qualificação necessária para a retomada do contrato não pode ser a mesma daquela realizada na licitação, devendo ser adaptada ao estágio atual do projeto e às responsabilidades específicas assumidas pelos novos atores, seja pela seguradora ou pelos subcontratados.
Por fim, a toda evidência não se poderia admitir que o executor do contrato tenha algum tipo de restrição para contratar com o poder público, uma vez que o artigo 14, inciso III, veda a participação na execução contratual, direta ou indiretamente, daquele que se encontra impossibilitado de contratar com a administração em decorrência de sanção que lhe foi imposta.
Em suma, a Lei nº 14.133/2021, ao introduzir o seguro-garantia com cláusula de retomada, oferece um mecanismo que se propõe a assegurar a continuidade e conclusão dos contratos de engenharia e contribuir para a diminuição do cemitério e obras paralisadas pelo Brasil. A real eficácia do instrumento para alcançar esses objetivos só o tempo mostrará. Por ora, é fundamental monitorar e ajustar continuamente sua aplicação para assegurar que os benefícios sejam maximizados e os desafios, adequadamente geridos.
– Nota do autor: meus agradecimentos a Gustavo Schiefler pelas ponderações e discussões valiosas, e a Gustavo Justino de Oliveira pela oportunidade de contribuir nesta coluna.
[1] “TCU identifica baixa utilização da nova lei de licitação pela administração pública”. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-identifica-baixa-utilizacao-da-nova-lei-de-licitacao-pela-administracao-publica.htm. Acesso em 11 jan. 2024.
[2] MARCONDES, José Cláudio Monteiro. Performance Bond e os contratos de obras públicas. In: JOTA, Brasília: 2016. Disponível em https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/performance-bond-e-os-contratos-de-obras-publicas-uma-solucao-para-um-antigo-problema-19042016. Acesso em 11 jan. 2024 e NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 944.
[3] REIS, Márcio Monteiro. A alocação de riscos e sua securitização na nova lei de licitações e contratos. In: OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende; MARÇAL, Thaís (Coord.). Estudos sobre a lei 14.133 – nova lei de licitações e contratos administrativos. São Paulo: Editora Juspodivm, 2021. p. 249275.
[4] SOUZA, Caio Augusto Nazário de; MADALENA, Luis Henrique Braga; VITA, Pedro Henrique Braz de. Reflexões sobre a cláusula de retomada na nova Lei de Licitações. In: CONSULTOR JURÍDICO, São Paulo, 2022. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-jun-15/opiniao-clausula-retomada-lei-licitacoes/. Acesso em 11 jan. 2024 e FREIRE, André Luiz. Direito dos contratos administrativos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 481.
[5] Disponível em: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133. Acesso em 11 jan. 2024.
[6] FREIRE, André Luiz. Direito dos contratos administrativos. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 481 e MELO, Anastácia; MENDONÇA, Natally Vasconcelos de; COSTA, Rogério Pimenta de. O seguro-garantia na Lei nº 14.133/2021 In: SOLLICITA, Curitiba, 2023. Disponível em: https://portal.sollicita.com.br/Noticia/20082#_ftn18. Acesso em 11 jan. 2024.
[7] NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2022. p. 947.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!