O abuso do poder de legislar e a inversão da presunção de constitucionalidade
7 de janeiro de 2024, 14h24
O estudo da presunção de constitucionalidade é precoce no Brasil, tendo em vista que a ação direita de constitucionalidade foi introduzida no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 3 de 1993, ou seja, cinco anos após a promulgação da Constituição. Entretanto, houve divergência importante sobre a constitucionalidade da referida ação de controle concentrado, o que será abordado aqui para que abordemos o tema de maneira elucidativa. [1]
Antes de julgar a primeira ADC, o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade da emenda constitucional 3, que foi julgada constitucional por 10 a 1. Todavia, vale uma digressão sobre o voto vencido do ministro Marco Aurélio. Em seu voto, o ministro considera inócuo julgar a constitucionalidade de dispositivos que já nascem com a presunção de constitucionalidade. Por outro lado, considera impossível conferir presunção absoluta de constitucionalidade a um dispositivo. [2]
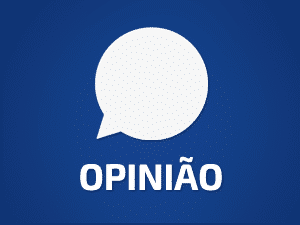
Nesse sentido é que se inicia a discussão sobre o modelo de controle judicial de constitucionalidade adotado no Brasil, qual seja, revisão judicial forte, tal modelo confere ao poder judiciário a prerrogativa de invalidar uma norma ou dispositivo. Isso significa que a norma ou dispositivo considerado inválido é extirpado do ordenamento pelo judiciário, a declaração judicial é invalidante, sem precisar de manifestação de outros poderes. [3]
Existem outros modelos de controle judicial de constitucionalidade espalhados pelo mundo. No Canadá, por exemplo, temos o controle judicial fraco, que é a prerrogativa conferida ao judiciário de declarar a inconstitucionalidade da norma ou dispositivo, mas não há a invalidação jurídica. Ou seja, o judiciário declara a inconstitucionalidade, entretanto somente pode irritar o parlamento para que revogue tal norma, enquanto isso a norma permanece válida. [4]
Vale salientar dispositivo curioso da Constituição canadense, mais especificamente na Seção 33 da Declaração de Direitos, que consagra a cláusula de não obstante. Tal cláusula confere ao Legislativo daquele país o poder de imunizar uma determinada norma. Assim, utilizada a cláusula citada, a norma não pode ser invalidada pelo judiciário por um determinado período.
O modelo de controle judicial canadense é fraco, ou seja, o Judiciário precisa do Legislativo para extirpar uma norma que considera invalida. Já no modelo brasileiro, controle judicial forte, o próprio Judiciário é quem invalida e extirpa a norma do ordenamento jurídico, já que as decisões do STF em controle concentrado possuem efeito ergaomnes.
Aqui encontramos a pertinência da discussão do voto vencido do ministro Marco Aurélio no julgamento da ADI que impugnou a emenda constitucional 3 de 1993, que criou a ADC, qual seja, não há presunção absoluta de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, pois isso impediria a invalidação de norma considerada constitucional em ADC pelo STF, já que gozaria presunção absoluta de constitucionalidade, violando o modelo de controle judicial forte. [5]
Assim, a presunção absoluta de constitucionalidade gerada pela ADC criaria uma “cláusula de não obstante” no ordenamento jurídico brasileiro, tornando a norma imune à análise de adequação pelo STF, o que não é permitido pela CRFB/88, já que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser afastada da análise judicial, mais uma evidência do controle judicial forte.
Toda essa análise foi exposta para que, juntos, cheguemos à conclusão de que o Brasil segue o controle judicial forte, mas, ainda assim, aqui vão os pressupostos de tal modelo: Constituição formal e rígida, uma corte de vértice julgadora, a Constituição como fundamento de validade e por fim uma sanção estabelecida pela corte. [6]
Após essa conclusão sobre o modelo de controle judicial de constitucionalidade no Brasil, podemos analisar a presunção de constitucionalidade das leis e o abuso do poder legislativo na edição de leis. A presunção de constitucionalidade das normas depende do respeito às normas editadas nos artigos 59 a 69 da CRFB/88. Além disso, também deve ser respeitado o conteúdo da Constituição, já que temos a inconstitucionalidade material também avaliada pelo Poder Judiciário.
Seguindo tal caminho legislativo, é prerrogativa do legislador editar normas que considerar conveniente e oportuno, entretanto, há limites ao poder discricionário de selecionar o conteúdo das normas, tendo em vista que discricionariedade e arbítrio são coisas diferentes, pois todas as prerrogativas estatais devem ser exercidas com responsabilidade. [7]
Não estamos a afalar de cláusulas pétreas, já que estas são expressas na CRFB/88. Estamos discutindo sobre os excessos legislativos dentro de um contexto de controle de constitucionalidade forte pelo Poder Judiciário. Então, chego ao ponto central da discussão deste artigo: Não é permitido ao legislador criar leis com conteúdo já declarado inconstitucional pelo STF. Em suma, a insistência não torna redondo o que é quadrado.
Não há conduta irresponsável nas ciências jurídicas que não tenham uma sanção correspondente, no caso do abuso do poder de legislar, temos a sanção de inversão da presunção de constitucionalidade da pretensa norma editada pelo legislador, o que torna a norma ineficaz desde a sua edição.
Para que sejamos sinceros, estamos apresentando, até aqui, os raciocínios e dispositivos jurídicos que tornam a reedição do marco temporal inconstitucional, como o legislador brasileiro tenta reeditar uma emenda constitucional com o conteúdo do marco temporal, acreditando que uma emenda constitucional está livre de apreciação pelo judiciário, criamos a nomenclatura “norma constitucional de eficácia esvaziada”. [8]
O precedente paradigmático que temos acerca da teoria dos diálogos institucionais, teoria italiana desenvolvida pelo constitucionalista Ricardo Guastini. É a ADI 5105 que discutiu o tema da vaquejada, onde houve uma superação legislativa da decisão do STF que tornou inconstitucional a vaquejada, com alteração do parâmetro constitucional, tornando a prática da vaquejada constitucional.
No referido caso, a vaquejada foi considerada inconstitucional pelo STF, em razão do sacrifício de animais, o que violaria a proteção constitucional ao meio ambiente. Entretanto, o legislador reeditou tal norma, mas se incumbindo do ônus argumentativo de demonstrar que a vaquejada não é sacrifício puro e simples de animais sendo também uma manifestação cultural o que deveria ser considerado para tonar tal prática constitucional. [9]
Por isso, quero deixar bem claro aqui que a teoria dos diálogos institucionais não é inconstitucional, mesmo que diante de um modelo de controle judicial forte, como o modelo brasileiro. É perfeitamente possível que o legislador edita uma nova norma sobre assunto já declarado inconstitucional pelo STF, mas a presunção de constitucionalidade da norma será condicionada ao ônus argumentativo do legislador. [10]
Nesse sentido, é exigido do legislador que fundamente a reedição da norma já declarada inconstitucional pelo STF, desde que argumente, já que a teoria dos diálogos institucionais não é um cabo de guerra, mas sim uma conversação constitucional entre poderes instituídos. E como impõe o regime democrático e o artigo 91 da CRFB, toda decisão deve ser fundamentada.
Dessa forma, fica constatado que a tentativa de reedição do marco temporal é pouco técnica juridicamente, já que não há fundamentação que altere o quadro jurídico analisado pelo STF no julgamento do tema. Assim com o mesmo Direito a ser julgado, temos o mesmo entendimento. [11]
Por isso criamos aqui a nomenclatura “norma constitucional de eficácia esvaziada”, já que o abuso do poder de legislar torna a pretensa norma constitucional presumidamente inconstitucional, inverte a presunção que é prerrogativa do Poder Legislativo. Sinal claro dessa inversão de presunção é o dispositivo da Lei 9868/99, que dispensa o advogado-geral da União da defesa de lei, já julgada inconstitucional pelo STF, se a mesma for objeto de nova Ação direta. [12]
_____________________
Referências
Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional/ José Afonso da Silva. – 11. ed., atual. – São Paulo: Malheiros, 2019.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em 08/06/2023.
https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/05/25/apos-acordo-politico-em-comissao-governo-quer-judicializar-mudancas-na-mp-que-reestrutura-ministerios.ghtml. Acesso em 08/06/2023.
https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472623&ori=1. Acesso em 08/06/23.
[1] Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional/ José Afonso da Silva. – 11. ed., atual. – São Paulo: Malheiros, 2019.
[2] Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional/ José Afonso da Silva. – 11. ed., atual. – São Paulo: Malheiros, 2019.
[3] Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional/ José Afonso da Silva. – 11. ed., atual. – São Paulo: Malheiros, 2019.
[4] Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional/ José Afonso da Silva. – 11. ed., atual. – São Paulo: Malheiros, 2019.
[5] Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional/ José Afonso da Silva. – 11. ed., atual. – São Paulo: Malheiros, 2019.
[6] Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional/ José Afonso da Silva. – 11. ed., atual. – São Paulo: Malheiros, 2019.
[7] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm Acesso em 08/06/2023
[8]https://g1.globo.com/politica/noticia/2023/05/25/apos-acordo-politico-em-comissao-governo-quer-judicializar-mudancas-na-mp-que-reestrutura-ministerios.ghtml. Acesso em 08/06/2023.
[9] Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional/ José Afonso da Silva. – 11. ed., atual. – São Paulo: Malheiros, 2019.
[10] Silva, José Afonso da. Direito ambiental constitucional/ José Afonso da Silva. – 11. ed., atual. – São Paulo: Malheiros, 2019.
[11] https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472623&ori=1. Acesso em 08/06/23.
[12] https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=472623&ori=1. Acesso em 08/06/23.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!








