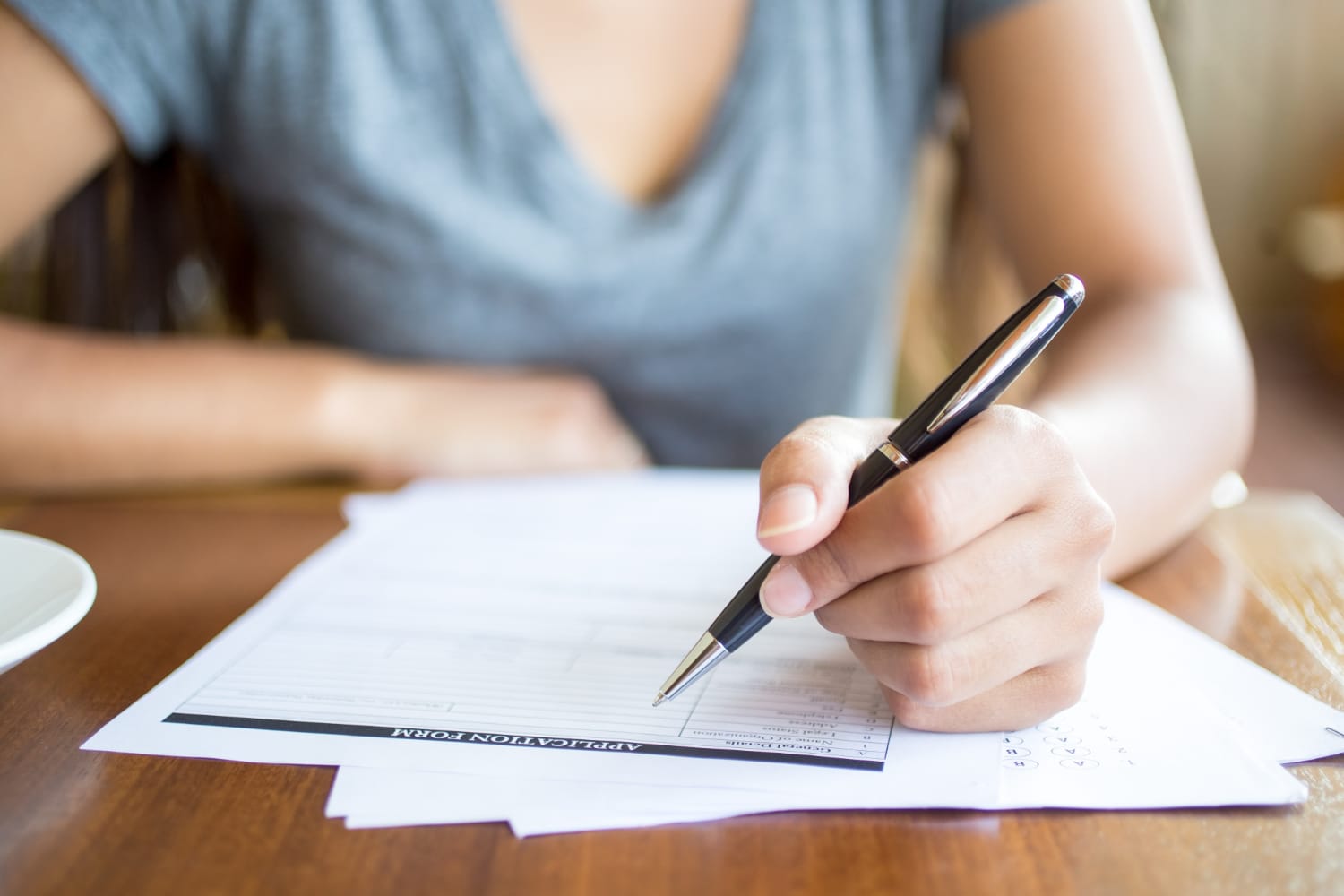'Direito ao desafio': pluralismo normativo e experimentação incentivada
4 de abril de 2024, 8h00
“Direito ao desafio” é a designação do programa instituído em 2019 pelo governo português para promover a implementação de projetos experimentais na administração pública. Embora em alguns aspectos semelhante às sandboxes voltadas a empreendedores privados, o programa “direito ao desafio” dirige-se a empreendedores públicos, com a ambição de alterar a própria funcionalidade de órgãos e entidades estatais, ofertando incentivos para que agentes públicos proponham e testem novas formas de trabalhar, identifiquem constrangimentos burocráticos e obstáculos normativos específicos inibidores da inovação em suas respectivas áreas de atuação.
Particulariza o programa “direito ao desafio” a autorização normativa genérica de aplicação de regime jurídico experimental – regime jurídico piloto – para um determinado grupo de órgãos e entidades reais, por período determinado, com suspensão da aplicação de normas legais e regulamentares que impeçam a implementação do experimento. É dizer: o programa chancela o pluralismo normativo como veículo experimental de inovação, com quebra da uniformidade no regime de funcionamento de órgãos e entidades públicas. Algo que surpreende o jurista tradicional, em particular em face do princípio da legalidade e da igualdade, com potencial de provocar resistências e incompreensões doutrinárias e jurisprudenciais sem a filtragem constitucional necessária e uma análise mais profunda.
Em fórmula de síntese, pode-se entender que o “direito ao desafio” consiste em iniciativa governamental baseada em projetos, com suspensão temporária de normas obrigatórias para determinado conjunto específico de unidades administrativas, cujos resultados são monitorados e recebem incentivos administrativos e financeiros da administração pública em favor da inovação e da experimentação. A origem formal do referido programa em Portugal, as suas primeiras adversidades, e a eventual utilidade heurística que o seu estudo pode oferecer para explicar fatos passados e possibilidades futuras de aplicação de projetos semelhantes na administração pública brasileira formam o tema do presente artigo.
Origem formal e vicissitudes do programa
O programa “direito ao desafio” foi instituído pelo Decreto-Lei nº 126/2019, de 29 de agosto, no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação na Gestão Pública (SIIGeP). A iniciativa permite que os próprios serviços públicos testem novas soluções para os seus desafios, mesmo que isso implique suspender temporariamente determinadas disposições legais.
No preâmbulo do Decreto-Lei 126/2019, equipara-se a expressão “direito ao desafio” ao próprio “mecanismo” de suspensão especial de normas obrigatórias, nos seguintes termos:
“A experimentação constitui um dos pilares do sistema de incentivos e visa testar novos modelos de gestão com objetivos concretos de melhoria de funcionamento dos serviços públicos, com uma duração estabelecida no tempo e indicadores de avaliação, podendo ser desenvolvidos de forma colaborativa entre diversas entidades. Os projetos experimentais podem revelar-se especialmente úteis quando integram um mecanismo intitulado «direito ao desafio», que implica a suspensão temporária de regimes legais vigentes, através de instrumento legal adequado para esse efeito e pelo período de duração do projeto, aplicando-se a título temporário as soluções normativas inovadoramente previstas e juridicamente autorizadas, para um âmbito restrito, por esse mesmo instrumento legal. Este mecanismo permite avaliar novos modelos de funcionamento nos organismos da administração pública, sem exigir uma alteração legal de âmbito geral, funcionando como avaliação prévia da necessidade de novos instrumentos normativos e com intervenção das partes interessadas” [1].
O programa governamental “direito ao desafio” não permite qualquer espécie de alforria da legalidade, pois simplesmente autoriza que um conjunto determinado de oito entidades e órgãos desatendam durante a vigência dos projetos experimentais as obrigações legais previstas nos dois anexos do Decreto-Lei 126/2019. A aplicação do regime alternativo previsto igualmente nos anexos do Decreto-lei 126/2019 garante a observância da legalidade.

Foram autorizados a aplicar o regime alternativo de maior “autonomia gestionária” constante dos anexos do Decreto-lei 126/2019 as seguintes entidades e órgãos: a) Direção-Geral da Administração e do Emprego Público; b) Direção-Geral da Política de Justiça; c) Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas; d) Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P.; e) Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P.; f) Secretaria -Geral do Ministério da Defesa Nacional; g) Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros; h) Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., no que respeita aos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) do Porto Oriental e ACeS Póvoa de Varzim/Vila do Conde [2].
Carlos Carapeto, que foi gestor da equipe de coordenação do SIIGeP, considerou que esta suspensão temporária de regimes legais vigentes por iniciativa dos trabalhadores e chefias das organizações públicas “foi talvez a maior inovação que o Estado admitiu, desde há muitas décadas, na máquina administrativa de Portugal” [3]. No entanto, com olhar retrospectivo, lamenta as vicissitudes do programa “direito ao desafio”: a sucessão política, com o advento ao XXII Governo Constitucional, na sequência das eleições legislativas de 6 de outubro de 2019, que não promoveu o programa com a intensidade esperada, e o coronavírus (Covid-19), a pandemia de 2020-2022, que minou completamente o projeto experimental na área de saúde (“Reinventar os ACeS – Autonomia em Proximidade”), pois com a pandemia todos os recursos foram canalizados para o atendimento das pessoas e preservação dos sistemas de gestão.
Para o autor, apesar do desfecho, esta não é “a história de um fracasso”. A pandemia e as dificuldades políticas do momento podem ter dado voz a “defensores da velha ordem”, mas acredita que “as lideranças do futuro saberão redescobrir este momento ímpar da administração portuguesa” [4]. Entretanto, não é possível avaliar adequadamente as afirmações críticas e otimistas do autor: até o momento não estão disponíveis para acesso geral os relatórios de gestão dos projetos experimentais aprovados, falha indiscutível da iniciativa portuguesa.
Utilidade heurística do “direito ao desafio”
Embora não seja possível apurar, em termos empíricos, os impactos efetivos do programa direito ao desafio, há aspectos interessantes no design do programa. Ele apresenta características que bem lidas o aproximam de iniciativas igualmente presentes no direito brasileiro. Em termos dogmáticos, um conjunto interessante de temas: experimentação administrativa e estudo de impacto regulatório; pluralismo jurídico e diferenciação orgânica; abrange órgãos despersonalizados e entidades personalizadas; objetiva ampliar o grau de “autonomia gestionária”, entendida de forma abrangente, com emprego de instrumentos consensuais como os “contratos programa”.
Em vários desses aspectos aproxima-se do tema do contrato de desempenho, instituto que no Brasil conta com suporte constitucional (artigo 37, §8º, da CF, introduzido pela EC19/1998) e lei específica (Lei 13.934/2019, publicada em 12/12/2019). Encarta temas sobre os quais dediquei atenção em mais de uma dezena de trabalhos desde 1998. Em face disso, qual a relevância de estudar o modelo português, neste contexto?
Penso que é exatamente identificar a necessidade de, no Brasil, novamente revalorizar a imaginação e a inovação como um valor público a ser perseguido, testado e avaliado, ampliando-se os incentivos e as flexibilidades oferecidas pela Lei 13.934/2019.
Como salientei em breve estudo anterior, Contrato de Desempenho e Organização Administrativa [5], por não ter sido de iniciativa do Poder Executivo, mas resultado de meritória iniciativa parlamentar do senador Antonio Anastasia, a Lei 13.934/2019 não incluiu rol abrangente de flexibilidades aplicáveis em matéria gerencial, orçamentária e financeira, elemento fundamental para incentivar a implementação do instituto.
Nasceu lei incompleta, bem articulada como instituto de parametrização do controle (redução da discricionariedade no exercício do controle hierárquico e da supervisão administrativa), porém insuficiente como veículo de flexibilidade funcional e organizatória, isto é, para o ingresso da entidade ou órgão signatário em regime jurídico especial favorável, mais flexível ou autonomizante quanto a aspectos destacados no §8º do artigo 37 da Constituição Federal.
O programa português também salienta, por ser isso signo de nosso tempo, a importância de considerar os projetos experimentais à luz dos estudos de impacto normativo, pois a coexistência de normas divergentes e alternativas em uma única administração pública, deve ser analisada não apenas sob o ângulo dos resultados do contrato de desempenho firmado, porém também à luz das vantagens ou desvantagens comparativas de generalizar ou não as normas especiais adotadas no curso do processo de experimentação. Essa experimentação não deve ser vista, como no passado, como mera decisão político-administrativa isolada, mas dentro de um programa de aprendizado institucional para avaliar os impactos das novas alternativas de gestão de órgãos e entidades, permitindo que sejam aprimoradas antes de serem aplicadas em larga escala.
As fragilidades do programa “direito ao desafio” também oferecem insights interessantes. A necessidade de reforçar a publicidade e a transparência dos contratos de desempenho e seus resultados é um aspecto visível, porém também merece atenção o problema das sucessões políticas, e a necessidade de pensar formas de reduzir a descontinuidade administrativa e tratar projetos experimentais temporários com algumas garantias mínimas de continuidade.
A transformação digital de nossa época permite o acesso a informações de custos, de resultados de impacto social (número de atendimentos, rapidez, média de avaliação de satisfação, renovação de pedidos, perfis populacionais, entre outras) e de interação entre programas públicos (redundâncias ou superposições) vitualmente impossíveis no passado. A big data permite comparar a produtividade e a equidade da gestão pública a partir de evidências que antes habitavam o reino das boas impressões e intenções. Se isso é verdade, a experimentação pode ser medida em termos não apenas econômicos e sim igualmente sociais e territoriais. E deve ser reforçada com ampliação de regimes jurídicos alternativos em várias dimensões do agir e da organização administrativa. É importante ampliar e fortalecer a Lei 13.934/2019.
Como sintetizou com lucidez Francisco Gaetani, “o governo pode gastar muito ou pouco, mas em ambos os casos pode gastar bem ou mal. Só que isso nunca é dito. Perdulários partem da premissa de que gastar muito é gastar bem. Austericidas entendem que gastar o mínimo é gastar bem. Não há como avançar neste debate” [6]. Concordo, mas reforço no mesmo sentido do autor: o que é insustentável é o debate nestes termos, generalista e descontextualizado, sem experimentação disciplinada e sem avaliação segura e controlada de resultados públicos. Romper com preconceitos e avaliar experiências concretas com método e organização é o nosso verdadeiro desafio.
[1] Ver https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/126-2019-124283150 [acesso 3/4/2024] ou https://files.diariodarepublica.pt/1s/2019/08/16500/0000200007.pdf
[2] Ver https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/decreto-lei/126-2019-124283150 [acesso 3/4/2024] ou https://files.diariodarepublica.pt/1s/2019/08/16500/0000200007.pdf
[3] CARAPETO, Carlos. Liderança transformadora no Setor Público: liberdade, imaginação e criatividade. Lisboa: Ed. Sílabo, 2023, p. 238.
[4] CARAPETO, Carlos. Idem, ibidem, p. 243.
[5] Ver MODESTO, Paulo. Contrato de Desempenho e Organização Administrativa, disponível na ConJur, e, em termos ampliados, MODESTO, Paulo. Legalidade e autovinculação da Administração Pública: pressupostos conceituais do contrato de autonomia no anteprojeto da nova lei de organização administrativa. In: MODESTO, Paulo (Org.). Nova organização administrativa brasileira. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p.113-169, disponível em https://www.academia.edu/45494341
[6] GAETANI, Francisco; LAGO, Miguel. A construção de um Estado para o século XXI. Rio de Janeiro: Ed. Cabogó/Republica.org, 2022, p. 164.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!