Natureza, equilíbrio e homeostase (parte 2)
3 de setembro de 2022, 12h34
Anotamos no artigo anterior [1] que o ecossistema está se movimentando em velocidade crescente e cabe aos humanos compreender a sua parte nele, não para a sobrevivência do ecossistema — outro substituirá o que existe hoje —, mas para sobrevivência de nós mesmos, pois o desequilíbrio pode conduzir à interrupção do próprio funcionamento do sistema. Essa compreensão implica uma nova visão do desenvolvimento — que deve ser sustentável, todos sabemos — e da nossa inserção na cadeia da vida. De um lado, como fenômeno biológico, a nossa reinserção na natureza; de outro lado, como fenômeno cultural, o reforço de mecanismos pessoais e legais que auxiliem na manutenção dos ecossistemas — e do equilíbrio, ao menos em parte — que temos hoje, ante o risco enorme das mudanças já em curso. Como disse Miguel Reale [2], se antes recorríamos à natureza para dar uma base estável ao Direito (a razão do Direito Natural), assistimos hoje a essa trágica inversão, sendo o homem obrigado a recorrer ao Direito para salvar a natureza que morre.
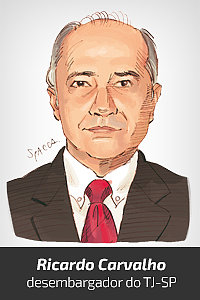 Mencionamos também que o equilíbrio do ecossistema repousa no tempo e no espaço e cabe ver como tais aspectos são regulados entre nós. Ante a dificuldade de regular o tempo, a lei se direciona ao espaço, de várias formas. A Constituição Federal diferencia primeiro o espaço dos humanos no artigo 182, ao destacar o espaço onde vivem (as cidades) e garantir o bem-estar de seus habitantes, nesse espaço incluído, pela finalidade, as áreas rurais que lhes dão sustento [3]; e destaca o espaço da natureza no artigo 225, que confere a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo ao poder público, entre outros, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, definir espaços territoriais a serem especialmente protegidos, proteger a fauna e a flora [4].
Mencionamos também que o equilíbrio do ecossistema repousa no tempo e no espaço e cabe ver como tais aspectos são regulados entre nós. Ante a dificuldade de regular o tempo, a lei se direciona ao espaço, de várias formas. A Constituição Federal diferencia primeiro o espaço dos humanos no artigo 182, ao destacar o espaço onde vivem (as cidades) e garantir o bem-estar de seus habitantes, nesse espaço incluído, pela finalidade, as áreas rurais que lhes dão sustento [3]; e destaca o espaço da natureza no artigo 225, que confere a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, incumbindo ao poder público, entre outros, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, definir espaços territoriais a serem especialmente protegidos, proteger a fauna e a flora [4].
Essa definição ou contraposição dos espaços alocados aos humanos e à natureza aparece de forma clara no Código Florestal de 1934 [5], que previu a proteção das denominadas florestas protetoras e remanescentes [6] e a preservação de 25% da vegetação existente, em caso de supressão (artigo 23), liberando o restante para uso humano. Foi mantida no Código Florestal de 1965 [7], que definiu com mais clareza as áreas de preservação permanente, cobertas ou não por vegetação nativa, destinada à preservação dos recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas, e a reserva legal, reduzida a 20% da área da propriedade, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas (artigo 1º, §2º, incisos II e III) e no Código Florestal de 2012 [8], que afirmou o compromisso do Brasil com a preservação de suas florestas e demais formas de vegetação nativa e repetiu as disposições relativas à área de preservação permanente e reserva legal.
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza [9] compreende espaços destinados à manutenção da diversidade biológica e recursos genéticos no território nacional e águas jurisdicionais, proteção de espécies ameaçadas e das paisagens naturais e demais objetivos indicados em seu artigo 4º e se divide em dois grupos principais, as Unidades de Proteção Integral, com o objetivo básico de preservar a natureza com possível uso de seus recursos naturais [10], e as Unidades de Uso Sustentável, que visam a compatibilizar o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais [11] (artigo 7º, incisos I e II), todas com diferentes restrições ao uso e à visitação.
A separação dos espaços assume feição cada vez mais relevante ante a dificuldade de compatibilizar a necessidade crescente de recursos naturais e a apropriação dos espaços urbanos, da agricultura e da pecuária e da mineração (que neste trabalho equalizo como "espaços urbanos", pois destinados à sustentação da vida humana) pelos humanos. Ao mesmo tempo, os processos naturais da flora e da fauna não sobrevivem sem um determinado espaço que lhes seja dedicado, um refletindo direta e indiretamente no outro. Não há uma regulamentação legal do tempo, o outro aspecto do equilíbrio, mas apenas uma decorrência indireta: protege-se o tempo necessário à conservação, à preservação e à recomposição do meio ambiente, que varia conforme o contexto analisado.
Dessa diferente percepção do espaço e do tempo decorre o conflito que deságua nos tribunais e na luta pela preservação da natureza. A necessidade e o desperdício humano impulsionam a sociedade a apropriar-se do espaço que há de ser reservado à natureza e aos processos vitais e a diferente contagem do tempo, rápido para os humanos e lento na natureza, não permite que os processos vitais se estabeleçam, conservem e recuperem. Assim, tem-se afirmado que as áreas de proteção permanente não podem ser ocupadas e devem ser recompostas [12]; que o direito de propriedade está condicionado à estrita observância, pelo proprietário atual, da obrigação propter rem de proteger a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitar a poluição do ar e das águas, nos termos do artigo 1.228 e §único do Código Civil [13]; que o princípio da precaução justifica a paralisação das obras de empreendimento imobiliário em área protegida, "pois os danos ambientais serão irreversíveis se, julgada procedente a demanda, as obras tiverem sido concluídas e os imóveis estiverem vendidos e habitados, devendo prevalecer o interesse público na preservação do meio ambiente sobre os interesses particulares" [14]; que os animais silvestres devem ser devolvidos à natureza ou aos centros de triagem, ainda que tenham convivido com humanos [15]; que a incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais, nem ficar dependente de motivações de índole meramente econômica, pois subordinada, entre outros princípios gerais, àquele que privilegia "a defesa do meio ambiente" (CF, artigo 170, VI) [16]; que a ocupação tolerada pelo Estado em área pública e de proteção ambiental não impede a remoção posterior, pois a consideração do fato consumado equivaleria a perpetuar um suposto direito de poluir, de degradar, contrário ao postulado do meio ambiente equilibrado e essencial à sadia qualidade da vida [17].
Desse conflito do espaço e do tempo decorre a necessidade de ampliação e preservação dos espaços protegidos e das unidades de conservação, com rigorosa regulação da presença dos humanos e da atividade econômica [18]. Decorre também a precariedade do nosso tecido urbano, quase inteiramente reservado à atividade humana e quase nada alocado à natureza na forma de praças, arborização, conservação das águas e do clima, com reflexo direto na qualidade de vida e na saúde das pessoas; e quase nada alocado às próprias pessoas, cada vez mais aglomeradas em espaços menores. E, somada a intensa interferência que vimos fazendo, o nosso curto tempo humano terá dificuldade para reverter a perda da biodiversidade, da água, da vegetação e das mudanças climáticas em andamento e seus reflexos que já sentimos.
[2] MIGUEL REALE, Memórias, Ed. Saraiva, 1987, São Paulo, vol. I, pág. 297.
[3] O artigo 182 foi regulamentado pela LF nº 10.257/01 de 10-7-2001, o Estatuto das Cidades. A lei tem por finalidade ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as diretrizes que estabelece (artigo 2º), entre elas a proteção ambiental. Tal proteção e preservação, no entanto, acabam subordinadas ao interesse prevalente da população: o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações (artigo 2º, inciso I).
[4] CF, artigo 225, § 1º, incisos I a VIII.
[5] DF nº 23.793/34 de 23-1-1934.
[6] DF nº 23.794/34, artigo 3º, alíneas ‘a’ e ‘b’. Florestas protetoras são aquelas que, pela sua localização, servem para conservar o regime das águas, evitar a erosão pela ação dos agentes naturais, fixar dunas, auxiliar a defesa das fronteiras, assegurar a salubridade pública, proteger sítios por sua beleza, asilar espécies rara da fauna indígena. Florestas remanescentes são as que formarem os parques nacionais, estaduais ou municipais, as de preservação por interesse biológico ou estético e as que o poder público reservar para pequenos parques ou bosques, de gozo público.
[7] LF nº 4.771/65 de 15-9-1965.
[8] LF nº 12.651/12 de 25-5-2012.
[9] LF nº 9.985/00 de 18-7-2000, que regulamenta os incisos I, II, III e VII do § 1º do artigo 225 da CF
[10] As Unidades de Proteção Integral são as Estações Ecológicas,
Reservas Biológicas, Parques Nacionais, Monumentos Naturais e Refúgios da Vida Silvestre, e as Unidades de Uso Sustentável (artigo 8º a 13º).
[11] As Unidades de Uso Sustentável são constituídas pela Áreas de Proteção Ambiental — APA, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural (artigo 14 a 21).
[12] Ibama v. Oberdan Clausen, REsp nº 1.667.087-RS, STJ, 2ª Turma, 7-8-2018, Rel. Og Fernandes.
[13] Sérgio Motta v. União, REsp nº 1.109.778-SC, STJ, 2ª Turma, 10-11-2009, Rel. Herman Benjamin.
[14] Helder Ferreira Pereira Forte e Cameron Construtora Ltda v. Superintendência Estadual do Meio Ambiente — SEMACE, AgRg na SLS nº 1.323-CE, STJ, Corte Especial, 16-3-2011, Rel. Felix Fischer.
[15] Marta de Souza Garcia v. Estado de São Paulo, MS nº 1010897-13.2020.8.26.0053, 1ª Câmara Ambiental, 2020, Rel. Torres de Carvalho. A impetrante pretendia a devolução de um papagaio, que mantinha em residência sem licença ambiental, apreendido pela Polícia Ambiental. A questão é controvertida e diversas decisões das Câmaras Ambientais de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça determinam a devolução do pássaro ao seu detentor.
[16] MC-ADI nº 3.540, STF, Pleno, 1-9-2005, Rel. Celso de Mello.
[17] Associação dos Moradores do Córrego das Antas — AMCA — Lago Sul e outros v. Distrito Federal, AgRg no RMS nº 28.220-DF, STJ, 1ª Turma, 18-4-2017, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho.
[18] Em um exemplo atual, “para o biólogo e pesquisador Reuber Brandão, o Cerrado brasileiro vive um momento dramático: o desmatamento e o avanço descontrolado do agronegócio sobre o território estão matando nascentes de água e pequenas lagoas extremamente importantes para o abastecimento da população e a geração de energia elétrica. Oito das 12 principais bacias hidrográficas brasileiras, como as dos rios São Francisco e Paraná, nascem nesse que é o segundo maior bioma do país, perdendo só para a Amazônia. Segundo Brandão, o uso da água do Cerrado para irrigação de produtos agrícolas, principalmente a soja, está diminuindo o volume do recurso nessas bacias, além de destruir boa parte da fauna e da flora que fazem do bioma a savana mais biodiversa do planeta”. In Brasil é competitivo porque exporta soja sem cobrar por água e biodiversidade perdidas, diz cientista (msn.com), acesso em 3-9-2022.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!










