O Supremo Tribunal Federal pode ignorar a vontade do constituinte?
1 de setembro de 2018, 8h05
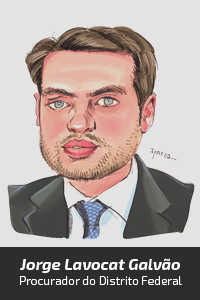 I.
I.Às vésperas do aniversário de 30 anos da Constituição Federal de 1988, é importante refletir sobre o grau de fidelidade da geração atual ao projeto original de nossos constituintes. É de se indagar, em outras palavras, se o texto de 1988, que é o marco da redemocratização do país, está sendo respeitado pelos cidadãos, políticos e juízes. Em se tratando de uma carta de vanguarda, com inúmeras cláusulas progressistas, a expectativa de que suas promessas venham a se concretizar depende, em certa medida, do comprometimento dos intérpretes em manter o projeto constitucional. A interpretação constitucional, nesse sentido, pode ser caracterizada como um ato de profissão de fé, baseado na crença de que, por meio da Constituição, construiremos uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º, I).
O que, contudo, significa manter-se fiel ao projeto constitucional? Dito de outra forma: como é possível verificar se determinada interpretação é compatível com o compromisso assumido pelo povo brasileiro na primavera de 88? É certo que a Constituição possui inúmeras cláusulas vagas, que traçam princípios a serem seguidos pelas gerações futuras. Cite-se, por exemplo, o princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI), que demanda densificação para ser compreendido concretamente. Em casos tais, é possível que juízes decidam de maneira contrária à vontade da Assembleia Constituinte, sem trair o projeto constitucional, ou os intérpretes, para atuarem legitimamente, estão vinculados à intenção original do constituinte? Em suma, qual o papel da interpretação histórica no constitucionalismo contemporâneo?
Alguns casos são provocativos quanto ao tema. Sabe-se, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal concluiu que a presunção de inocência (artigo 5º, LVII) não veda o cumprimento provisório da pena. Uma reconstrução histórica da norma, contudo, demonstra que a intenção dos constituintes era exatamente a oposta1. Outro caso emblemático refere-se aos efeitos da condenação criminal de parlamentares (artigo 55, parágrafo 2º). Na Ação Penal 470, o ministro Lewandowski defendeu, com base nos debates da Constituinte, que a perda do cargo não seria automática, mas dependente de decisão do Parlamento. Na ocasião, venceu o voto do ministro Joaquim Barbosa, que, a partir de uma interpretação evolutiva, defendeu o imediato afastamento dos deputados do cargo. Em ambos os casos, o STF aparentemente traiu a vontade original dos constituintes. O que esses precedentes nos ensinam sobre teoria constitucional?
II.
A questão da vontade original é bastante intrigante, mormente em países de Constituições recentes, em que os debates da Assembleia Constituinte estão amplamente documentados, como é o caso do Brasil. Se hoje há certo consenso quanto à legitimidade do processo de redemocratização, era de se esperar que as escolhas dos representantes eleitos, que chegaram ao texto final após amplo debate entre os diversos segmentos da sociedade, fossem veneradas. Apesar disso, raros são os casos em que os juízes buscam nos anais da Constituinte subsídios para a sua decisão.
Nos Estados Unidos, por outro lado, a questão assumiu outros contornos. Após um longo período de ativismo judicial entre as décadas de 50 e 70, os juristas conservadores desenvolveram uma teoria chamada de originalismo, na qual se defende que a interpretação correta deve buscar nos registros históricos os elementos necessários para dar concretude às normas constitucionais. É de se registrar que, atualmente, a maioria Suprema Corte adota essa postura hermenêutica, que é assim sintetizada por Antonin Scalia, membro-associado do tribunal entre os anos de 1986 e 2016:
“Feita corretamente, a tarefa [interpretativa] requer a consideração de uma enorme quantidade de material — no caso da Constituição e suas Emendas, por exemplo, para mencionar apenas um elemento, os registros dos debates de ratificação em todos os Estados. Além disso, requer uma avaliação da confiabilidade desse material — muitos dos registros dos debates que ratificaram, por exemplo, são pouco confiáveis. E, mais ainda, requer imersão na atmosfera política e intelectual da época — de alguma forma, exige-se a substituição da mentalidade que atualmente possuímos pela a de outra época, adotando crenças, atitudes, filosofias, preconceitos e sentimentos que não são os de nosso dia. É, em resumo, uma tarefa às vezes mais adequada ao historiador do que ao advogado”2.
Os originalistas sustentam que a sua teoria é a mais compatível com o sistema democrático, já que a Constituição é vista como uma plataforma estável para que o sistema político possa editar normas que reflitam os valores atuais da sociedade. Ou seja, em vez de enxergar nas cláusulas constitucionais vagas uma abertura para que os juízes atualizem o sentido da Constituição, os originalistas entendem que o conteúdo historicamente fixado permite que os políticos democraticamente eleitos façam a revitalização do ordenamento jurídico por meio de leis e emendas constitucionais. Além disso, sustentam que a sua teoria oferece um critério judicial objetivo (histórico), enquanto que os critérios obscuros dos defensores de uma “Constituição viva” abrem brechas para decisionismos.
Os críticos ao originalismo, por sua vez, apontam as fragilidades dessa teoria. Em primeiro lugar, argumentam que a escolha de cláusulas vagas pelo constituinte seria um ato intencional para permitir que a Constituição reflita, a partir de novas interpretações, as mudanças de valores na sociedade. Em segundo lugar, questionam a possibilidade de se aferir a real intenção dos constituintes, visto ser impossível saber o que se passava na cabeça dos vários parlamentares, de espectros políticos distintos, no momento em que aprovaram o texto constitucional. Em terceiro lugar, sustentam que a teoria originalista seria antidemocrática na medida em que vincula as gerações atuais às concepções de mundo de nossos antepassados3.
Não obstante a sua baixa aceitação fora dos Estados Unidos, não há dúvida de que o originalismo levanta uma série de questionamentos difíceis sobre o papel das cortes constitucionais. Se a estabilidade é um dos propósitos de uma Constituição, não seria contraditório defender que os juízes podem modificá-la constantemente? Se não há consenso sobre o critério interpretativo a ser utilizado, há justificativa para não adotar a intenção do constituinte nos casos em que ela é conhecida? Porque juízes não eleitos teriam a prerrogativa de substituir a vontade da Assembleia Nacional Constituinte, cujo trabalho foi considerado legítimo pela maioria da população?
III.
No Brasil, o debate sobre o originalismo ainda é muito incipiente. Normalmente, os constitucionalistas mencionam os métodos tradicionais de interpretação (gramatical, sistemático, lógico e histórico) para logo concluir pela sua insuficiência para resolução dos casos constitucionais contemporâneos, olvidando-se de abordar sobre qual o peso da história para fins de interpretação constitucional. Ou seja, o método de interpretativo de reconstrução histórica do sentido da norma é praticamente ignorado pelos autores nacionais.
Sobre o tema, parece-nos óbvio que o argumento histórico não pode ser o único critério interpretativo — como advogam os originalistas —, mas não há dúvida de que a intenção do constituinte, se devidamente documentada, pode ajudar a esclarecer o sentido e o alcance de determinada cláusula constitucional. O próprio STF já reconheceu a sua utilidade, conforme se depreende do seguinte trecho de ementa de julgado:
DEBATES PARLAMENTARES E INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. O argumento histórico, no processo de interpretação constitucional, não se reveste de caráter absoluto. Qualifica-se, no entanto, como expressivo elemento de útil indagação das circunstâncias que motivaram a elaboração de determinada norma inscrita na Constituição, permitindo o conhecimento das razões que levaram o constituinte a acolher ou a rejeitar as propostas que lhe foram submetidas. Doutrina. – O registro histórico dos debates parlamentares, em torno da proposta que resultou na Emenda Constitucional nº 20/98 (PEC nº 33/95), revela-se extremamente importante na constatação de que a única base constitucional — que poderia viabilizar a cobrança, relativamente aos inativos e aos pensionistas da União, da contribuição de seguridade social — foi conscientemente excluída do texto, por iniciativa dos próprios Líderes dos Partidos Políticos que dão sustentação parlamentar ao Governo, na Câmara dos Deputados4.
Os poucos doutrinadores que abordam seriamente o tema chegam a conclusões similares à do STF, no sentido de que o elemento histórico não é irrelevante, mas também não é decisivo. José Afonso da Silva, por exemplo, defende que “o processo de formação constitucional tem interesse, não para a interpretação das normas acolhidas, mas para conhecer os valores que foram acolhidos e aqueles que foram rejeitados; estes, por essa razão mesma, não podem ser invocados para a composição de direitos”5.
Daniel Sarmento e Cláudio Pereira Neto, por seu turno, defendem que “no cenário constitucional brasileiro, não se deve ignorar o elemento histórico da interpretação, até em reverência à especial legitimidade da nossa Assembleia Constituinte de 87/88; Porém, não se deve, tampouco, impedir a atualização da Constituição pela via hermenêutica, por meio da interpretação evolutiva e da mutação constitucional”6.
IV.
Os casos mencionados no início do texto, nos quais o Supremo Tribunal Federal expressamente rejeitou a vontade dos membros da Constituinte, alertam para uma inequívoca questão de legitimidade. Se é certo que a prática constitucional contemporânea admite diversos tipos de argumentos — como, por exemplo, os de cunho principiológico (moral), consequencialistas e de Direito Comparado —, não há dúvida de que o elemento histórico também exerce força atrativa. Não se revela razoável que os motivos autênticos que levaram a edição de determinada norma constitucional sejam solenemente ignorados pelo intérprete, já que decorrentes de um processo político considerado legítimo.
Nesse sentido, a superação da intenção original do constituinte exige do intérprete o ônus argumentativo de demonstrar que, a partir de uma leitura construtiva do texto constitucional — que leve em consideração as vicissitudes do contexto atual —, as razões do constituinte não mais subsistem. Isso significa dizer que, por uma questão de legitimidade, o elemento histórico não pode ser ignorado no debate constitucional, ainda que, ao final, o intérprete fundamentadamente o rejeite.
1 https://www.valor.com.br/politica/5427705/autores-de-regra-constitucional-refutam-interpretacao-atual (acesso em 27/8/2018).
2 Originalism: The Lesser Evil. Cinn. L. Rev. (1989) p. 856-857.
3 Por todos: BREST, Paul. The Misconceived Quest for the Original Understanding. B. U. L. Rev. 60 (1980).
4 ADI 2010 MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgada em 30/09/1999.
5 Teoria do Conhecimento Constitucional. Malheiros, 2014, p. 877.
6 Direito Constitucional: Teoria, História e Métodos de Trabalho. Ed. Fórum, 214, p. 416-417.
Encontrou um erro? Avise nossa equipe!







